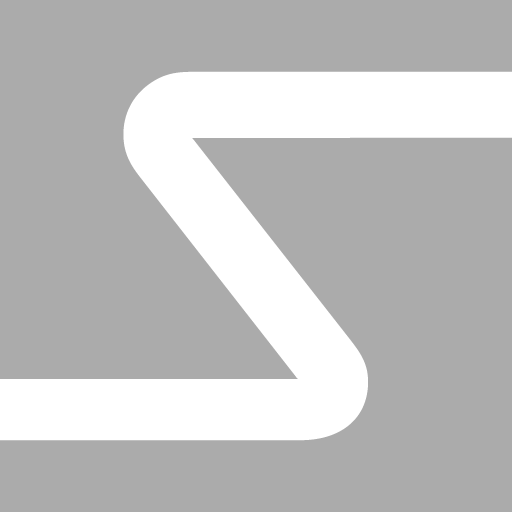51.072 345 de brasileiros são a favor da tortura. 51.072 345 de brasileiros admitem o armamento da população. 51.072.345 de brasileiros aceitam a atuação das milícias. 51.072.345 de brasileiros concordam com a justiça feita pelas próprias mãos. 51.072.345 de brasileiros…
Perguntar (não) ofende – Anotações sobre a entrevista: de Glauber Rocha ao documentário brasileiro recente
1.
Lá pelo final dos anos 80, o colunista José Simão, da Folha de São Paulo, cunhou a expressão “Perguntar não ofende”, reiterada quando trazia à baila algum acontecimento da atualidade – em geral de cunho político – para introduzir uma pergunta pretensamente inocente, com a função de expor a má fé de sua versão “oficial” . Com a malícia que costuma ser dom dos humoristas, ele percebeu que essa capacidade de dar a entender, sem afirmar, fazia da pergunta o instrumento ideal para por em evidência o que não podia ou não estava sendo dito com todas as letras. Com certeza esse caráter corrosivo da pergunta, sua capacidade de “deixar no ar” o que, de outro modo, não pode ser afirmado, fazem dela um instrumento extremamente atraente para o exercício do humor; instrumento cujo poder de fogo torna-se, de resto, ainda maior quando o campo visado é a arena política, território por excelência da palavra, do discurso, do jogo com o dito e o não dito.
No mesmo momento em que, em chave humorística, o crítico deixava patente o caráter político do ato de perguntar, no campo do cinema a pergunta ganhava proeminência por meio do papel de destaque que a entrevista assumiria, a partir dos anos 90, na produção documental brasileira. Proeminência, de resto, nem sempre vista com bons olhos pelos estudiosos. Assim, em texto de 2003 no qual chamava atenção para “as novas atitudes artísticas que vêm promovendo a renovação do trânsito entre arte e realidade, o crítico Jean Claude Bernardet diagnosticava um “esgotamento” do documentário brasileiro, atribuindo sua decadência à pobreza de uma dramaturgia baseada em métodos descritivos e na entrevista.
Proponho-me aqui a uma reflexão sobre o ato de perguntar no contexto do cinema brasileiro contemporâneo a partir de três experiências a meu ver bastante distintas e inspiradoras: a do programa de TV Abertura, de Glauber Rocha, da obra de Eduardo Coutinho, do trabalho de Cao Guimarães.
É justamente o poder implícito no ato de perguntar que o escritor Elias Canetti evocará em seu Massa e Poder 1, livro que focalizou o desencadear das massas do século XX atravessadas pela dialética da ordem e do comando. Ao tratar com agudeza a questão da ordem e da obediência à ordem, Canetti destaca a força da pergunta usada como exercício de poder, e recorre à metáfora da lâmina e do corte para reconhecer, no ato de perguntar, a mesma capacidade de penetrar “na carne do questionado, cortando fundo”. Canetti considera a pergunta como uma intromissão, um modo de “entrar pela força” e analisa de um ponto de vista político a dupla pergunta-resposta como situação de confronto, de tensão, como um embate de forças – em vez de tomá-lo, como se tende a fazer, como uma relação da ordem do diálogo, que propicia o entendimento, o encontro.
1 Canetti,E. Massa e poder. Tradução Sérgio Tellaroli. Companhia das Letras, São Paulo, 1995. Pp 285 a 299.
As perguntas são concebidas com vistas a obter respostas, diz Canetti, para obter algo que se está buscando. “Sabe-se de antemão o que se pode encontrar, mas quer-se descobri-lo e tocá-lo de fato”. Evocando a figura do cirurgião, Canetti diz que o inquiridor se precipita sobre os órgãos do interrogado, mas que seu interesse é manter “viva sua vítima 2 para saber mais sobre ela”. Ao emprestar desse profissional que interfere no corpo do outro o caráter invasivo de seus gestos, Canetti ressalta, entretanto, que a situação da pergunta põe em cena uma “espécie particular de cirurgião”, cujo procedimento implica numa insidiosa estratégia: “provocar deliberadamente a dor em certos pontos” (…) estimular “certas porções da vítima para saber de outras com maior segurança”.
2 Itálico meu.
Dotada dessa capacidade de dissimular seu objetivo, a pretensão da pergunta é dissecar, observa o escritor, dando prosseguimento a sua metáfora médica. Tal operação é iniciada pelo contato, que visa diferentes pontos; ao não encontrar resistência, ela avança, mas nem sempre vai diretamente ao ponto almejado: sorrateira, a pergunta pode reservar o resultado de sua colheita para utilização posterior.
Há algo na pergunta que é da ordem da cisão, diz Canetti, como uma faca que separa duas partes: antes dela não se sabe ainda o que se pensa. É ela que obriga a refletir, a separar prós e contras. Mesmo uma pergunta inocente, como a direção de uma rua, faz o inquirido parar, interromper o fluxo de seus pensamentos e, ao aceitar respondê-la, o obriga a desenhar um “mapa mental” onde passará a buscar o local procurado. É por causa de seu decisivo poder de corte, de sua “afiação”, que a pergunta é tão mais poderosa quando, certeira, pede apenas duas respostas, o sim e o não – a aquiescência à resposta implicando, por sua vez, um grau de comprometimento sem volta possível.
Sem dúvida certas situações podem restringir a ação – e, portanto, a força – do inquiridor. Assim, diz Canetti, as formas da civilidade impedem que se façam certas perguntas a um estranho; enquanto manter-se nessa reserva dá a este a sensação de ser respeitado – e, portanto, de ser mais forte. É o suposto equilíbrio de forças propiciado por tal distância que permite a convivência entre os homens.
Canetti opõe dois tipos de pergunta, segundo a distribuição de poder na qual operam: a pergunta dirigida aos mais fortes, pergunta “suprema”, “colossal”, que diz respeito ao futuro e é endereçada aos deuses; desobrigados de responder, eles podem também dar respostas ambíguas, difíceis de decifrar. No pólo oposto, a pergunta endereçada ao mais fraco, cuja situação extrema é o interrogatório que obriga à resposta sob pena de tortura e morte.
De acordo com esse ponto de vista, o ato de perguntar implica, como todo exercício de força, na constituição de uma estratégia; estratégia que desencadeará, por sua vez, no campo do inquirido, o uso de procedimentos ou de “métodos” de defesa: responder com outra pergunta, usar da astúcia para desencorajar o inquiridor, recorrer ao silêncio são alguns dos mecanismos que o inquirido pode acionar para se opor à intromissão da pergunta.
Além de obter a satisfação de seu desejo, o efeito das perguntas sobre o inquiridor é, naturalmente, o aumento de sua sensação de poder, observa Canetti. O que provoca nele a vontade de fazer mais e mais perguntas; enquanto isso, o inquirido submete-se tanto mais ao seu poder quanto mais consente em responder – tornado-se, por sua vez, mais fraco.
O lugar do político
É essa dinâmica instituída pela pergunta: o exercício do poder, por um lado e, o acionamento de mecanismos de defesa, por outro, que o cineasta Glauber Rocha explora na série de “entrevistas” postas em cena nos anos 79-80, ao longo de sua intervenção no programa Abertura da TV Tupi 3. Ao participar desse programa que tirava proveito do processo de abertura política para incrementar o debate democrático no país, o diretor de cinema, que sempre acreditara na importância da televisão, aproveitava-se de seu tempo de antena para uma intervenção política radical, tanto na forma quanto no conteúdo. Intervenção na qual o uso da forma-entrevista – ou melhor, a “política” da pergunta – ao encenar as ambíguas relações de poder da sociedade brasileira, não se limitava a deslocar o eixo do debate que então se travava, buscando ainda por em discussão uma série de temas (o cinema, a literatura, a psicanálise…) que visavam destacar o papel decisivo da dinâmica cultural naquele momento político.
3 Abertura foi ao ar de fevereiro de 1979 a julho de 1980 na rede Tupi de Televisão, dos Diários Associados, com direção geral de Fernando Barbosa Lima e direção de imagem de Alberto Loffler. Regina Mota relata que ele reuniu um dos melhores times de intelectuais, artistas e jornalistas jamais mostrados pela TV brasileira e foi o primeiro, depois do período da censura, a abordar aspectos políticos da realidade brasileira. O programa era composto por vários quadros, cada um apresentado por uma pessoa. Ele fornecia o equipamento e liberdade para a concepção de cada um. Barbosa Lima editava, a partir do material que recebia. À precariedade da produção modesta correspondia a liberdade de expressão de idéias e do tratamento televisual. Mota, R. A épica eletrônica de Glauber Rocha – Um estudo sobre cinema e TV. Editora da UFMG, Belo Horizonte, 2001.
Como Rosselini tinha apostado, em seu tempo, no uso pedagógico da televisão, Glauber estava apostando no seu uso político ao por o poder de comunicação desse veículo a serviço da incipiente abertura democrática – tema que já vinha evocando com insistência em suas intervenções públicas desde o final dos anos 70. Mas para o autor de “Estética da fome”, que nunca separou estética e política, por a proveito a função política da televisão não se resumia à mera substituição de conteúdos, ou, como se diz, de “mensagem”; implicava, igualmente, numa crítica da linguagem da televisão. O que ele empreenderá com grande entusiasmo e senso de humor, dando origem a uma série de programas até hoje de grande frescor.
A linguagem da televisão brasileira se cristalizara segundo os parâmetros estabelecidos ao longo dos anos 60-70 pela recém-criada TV Globo. Sob o lema bastante repisado da “qualidade técnica” (o chamado “padrão Globo de qualidade”), abrigavam-se objetivos políticos que, embora não reconhecidos, visavam atender as demandas do regime militar. Ao tornar de certo modo “homogêneo” um meio de grande diversidade social e cultural como o brasileiro, a TV Globo atuou no sentido de “integrar”, por meio da imagem, o território nacional no momento em que a ditadura, implantada em 1964, precisava de “unidade ideológica” para desenvolver o seu projeto político.
O tão prestigiado apuro técnico deu lugar, como se sabe, a uma estética comprometida com tal objetivo político. No que diz respeito à informação, privilegiou-se o seu bom acabamento: imagens bem feitas, edição precisa, ritmo dinâmico – assimilando qualidade técnica à objetividade. Também a figura impecável do jornalista, a solenidade da sua voz reforçavam a idéia de uma informação isenta, destituída de paixão. Tudo isso fez com que a qualidade técnica se tornasse um signo de “transparência”, uma “garantia” de objetividade – empreendimento bem vindo após anos de censura, que tinham comprometido a reputação da informação e de seus veículos.
Foi assim que se definiu uma “estética da limpeza”, com imagens impecáveis e a atualização constante do aparato tecnológico. O tão louvado “padrão Globo de qualidade” parecia constituir, no final das contas, o álibi perfeito para um “saneamento” da informação que não se limitava as suas “impurezas” técnicas, mas contemplava também a sua dimensão ideológica.
Enquanto no plano da informação se promovia a “depuração” da imagem esta, por sua vez, era preparada para a “entrada do povo”. O avanço técnico que criou o “padrão de jornalismo” Globo não só permitira a captação da imagem de gente comum, trazendo para o vídeo a cara da população. Ele deu lugar também ao desenvolvimento de novas iniciativas que visavam tornar “visível” o país para si mesmo, trazendo “democraticamente” para a tela aqueles que, antes, se contentavam em ficar a sua frente. Foi nesse mesmo empuxo que se cunhou, ou melhor, “patenteou” uma “imagem” do povo brasileiro e até uma idéia do que seria a “cultura brasileira”.
A maneira pela qual os pobres, em particular, adentraram a tela da televisão se fez sob o império de uma das características mais marcantes da cultura brasileira: a combinação, de dosagem variada, entre autoritarismo e paternalismo. Desenvolveu-se um “modo” muito próprio de falar com eles, de “mostrá-los”. Na “melhor” das hipóteses, como “vítimas” da situação social do país – o que funda um discurso benevolente, cheio de “boas” intenções, que confere ao mesmo tempo à câmera o direito de vasculhar suas vidas, suas dores e alegrias, sua intimidade enfim, a título de uma vaga “denúncia social”. Na pior das hipóteses, como “bandidos”, objetivados por um discurso moralizante e que, já terem “escolhido” a exposição pública, também podiam modo, ter sua imagem devassada e descaradamente explorada, sempre em nome do “bem público”. Foi assim que os pobres foram como que “desapropriados” de fala e de sua face, rentabilizadas no mercado de imagens.
Glauber chega à televisão quando o país atravessava uma situação política de transição, com promessas de fim da censura, redemocratização do regime e convocação de eleições diretas. Seu intuito é interferir nesse processo, fazendo valer o poder de comunicação que creditava à televisão e o espírito inovador do Abertura. Além disso, a linguagem cristalizada da TV, o comprometimento das emissões ao vivo pela censura seriam decisivos para que o diretor definisse a modalidade de sua intervenção do diretor.
Ao final dos anos 70, a televisão já incorporara , como seu “trunfo” maior, a “imagem” do povo brasileiro; e conseguira integrar, por meio do assistencialismo e da mais crua manipulação, a “participação” dos pobres: eles não estavam apenas nos programas de auditório, mas também as reportagens tinham nessa população um objeto privilegiado de atenção. Situação que não podia ser ignorada por um projeto de intervenção política via TV, sobretudo em se tratando de Glauber, diretor cuja obra primou pelo seu empenho no conhecimento do povo brasileiro.
A participação de Glauber contemplaria, desse modo, duas dimensões políticas inseparáveis: a intervenção por meio do trato direto de temas políticos, que podia passar tanto pelas desabridas entrevistas com personalidades do meio político e cultural, quanto pelo seu próprio discurso sem papas na língua; e uma crítica da estética da televisão, que tinha em mira a sua linguagem cristalizada. Quanto a essa dimensão, não se tratava de uma crítica metódica da linguagem – como no Godard dos anos 70 – mas da instauração de uma ruptura de limites, que resultava tanto da exploração de um novo veículo pelo diretor, quanto do caráter radical da sua intervenção ao atropelar a divisão de gêneros televisivos e propor outra abordagem do público.
Glauber concebia seu quadro, de menos de dez minutos. Mas em vez de permanecer por detrás da câmera, como um diretor, ele se põe diante dela e assume um papel múltiplo, de entrevistador, de animador que se dirige diretamente ao público, de agitador político que o interpela e até mesmo de provocador, fazendo-se, para tanto, também “personagem”. Recebia muitos convidados: políticos (a maioria da oposição), figuras públicas, que entrevistava em torno de seus temas preferidos: a política “das aberturas”, como ele a denominava, o processo de redemocratização, as reformas sociais, o resgate da memória e da história política, a cultura, a literatura, o teatro e o cinema brasileiros. Também podia ocupar o tempo com uma fala sobre esses assuntos, dirigindo-se diretamente à câmera. O tom direto, como se estivesse ao vivo, rompia com os padrões impostos pela censura em busca de interlocução com o público, os políticos, os responsáveis pela produção cultural e artística, a imprensa: Glauber sempre encontrava lugar para uma cerrada e impiedosa crítica da mídia, brandindo no ar o jornal ou revista visados, enfiando–os na frente da câmera ou interpelando nominalmente jornalistas, jornais e revistas 4.
4 A maioria das informações referentes ao Abertura é sempre proveniente do livro de Regina Motta. Segundo essa autora, Glauber se valia da imprensa para abordar temas da atualidade: além de servirem como “fonte” – em geral criticada – jornais e revistas e também livros se prestavam a experimentos com o uso da palavra impressa na tela; ademais, ao movimentá-los criava uma nova dinâmica no quadro, usando-os, como notou essa autora, como elementos internos da edição para “cortar” e “montar”. Mota, R. Op. Cit.
Ao lado dessas modalidades de intervenção, que nas mãos de Glauber tornavam-se um verdadeiro desafio à televisão e ao modo como esta se dirigia ao público, o diretor “criou” também dois personagens emblemáticos do povo brasileiro: um negro e um nordestino, com os quais interagia em nome de uma crítica das relações e representações que a própria televisão, as elites, as instâncias de poder faziam dessa população, sem se esquecer do que também fora elaborado sobre o tema nas imediações da esquerda e no cinema.
“O povo no poder”
Em seu livro A épica eletrônica de Glauber Rocha, Regina Mota 5 enumera algumas das rupturas das normas televisivas que o diretor promoveu, relacionando-as de preferência com o cinema e com a linguagem cinematográfica que ele tanto inovou. Aqui se trata de considerar o programa de Glauber do ponto de vista de seu embate direto com a televisão e, particularmente, com a linguagem da informação.
5 Mota. R. Idem, ibidem.
A postura de Glauber se contrapunha à clássica oposição entre redação e rua, que fixara dois regimes de linguagem para a informação. Na redação, a estabilidade do quadro, a pequena variação dos ângulos de tomada, a “boa” distância da câmera (nem muito perto nem muito longe), a disposição equilibrada dos jornalistas no centro do quadro e sempre atrás da mesa “de trabalho”; as vozes pausadas e o olhar para a câmera (em geral duas e não mais), a redação (ou o logo da emissora) como fundo, o corte harmônico e em sintonia com o olhar/câmera – tudo concebido para assegurar uma idéia de “equilíbrio”, de comedimento e seriedade diante dos fatos reportados. Na rua, “liberdade” da câmera para acompanhar os movimentos do repórter, o quadro mais instável, sublinhando a urgência da ação – enfim, a mobilização de uma série de recursos de linguagem de forma a “conotar” o calor, a emoção do acontecimento “vivido”.
A intervenção de Glauber punha abaixo essa clássica separação redação/rua e eliminava a distinção entre os dois regimes de imagem: não apenas ao levar a emoção, o calor e o movimento para o espaço fechado, atuando ainda como se estivesse sempre “ao vivo”, mas também ao colocar na rua cenas que, de hábito, seriam abrigadas na redação. Sem diferenciar um do outro, o diretor fazia ainda um uso perturbador do espaço fechado, ignorando as suas coordenadas de modo a torná-lo às vezes até irreconhecível – muitas vezes não sabemos se estamos no lugar “público” da redação, ou no espaço “privado” de ( sua?) casa; quando leva em conta as referências espaciais, é para mostrar um lugar inusitado para um programa de televisão: a sala de uma casa ( a do entrevistado?), por exemplo, ainda por cima com personagens que não costumam aparecer em tais circunstâncias: a babá com seu filho, a esposa…:

O diretor usou a entrevista como um artefato político que põe em cena o embate, o enfrentamento de forças, o que lhe permitiu exercitar, de forma impiedosa, uma crítica da dinâmica do poder na sociedade, no jornalismo e na televisão. Não se tratava apenas de se contrapor à “isenção” que o jornalismo reivindica, em razão da qual foi concebido o “ritual” de apresentação da notícia. Tratava-se também de propor outro tipo de jornalismo, tanto na concepção da imagem quando no registro da fala. Glauber punha alegremente em cheque a “neutralidade” e a solenidade da fala ao assumir um tom apaixonado, ao tomar sempre partido, ao se dirigir diretamente ao espectador de modo coloquial, atropelando-o com o ritmo acelerado de sua fala e interpelando-o e interpelando-o com ardor.
Também ao exibir aparência mal cuidada, destoava do jornalismo empostado “de terno e gravata” e, ao agitar-se continuamente em cena, criava a instabilidade do quadro, a perda do foco, gerando grande movimentação da câmera e cortes bruscos – “dirigindo” praticamente a cena em total oposição à estabilidade e harmonia habituais do quadro, à fixidez da câmera, à limpidez da imagem buscada pela informação. Tais elementos de linguagem, nunca vistos no telejornalismo, recriavam a mesma dinâmica das emissões ao vivo, chamando o envolvimento do espectador e reforçando o tom de urgência do diretor.
Muito antes que tais práticas se generalizassem, Glauber fez na rua entrevistas ainda hoje de raro frescor, em meio aos carros, aos passantes, ao ruído do trânsito, incorporando à cena tudo o que se passava no entorno. Além de agir na contracorrente do modelo dominante e de propor um jornalismo cheio de verve e humor, a intervenção do diretor se contrapunha à imagem “limpa” a que o público se acostumara, pondo em cheque esse signo de transparência que escondia compromissos – estes sim, políticos – com o regime militar. Sua imagem era propositalmente “suja”, mas os elementos de linguagem: o plano-seqüência insistente, o tremor, a perda de foco, o corte brusco não constituíam propriamente efeitos “buscados”; eles eram fruto de sia decisão política que não separa o que está sendo feito do modo de fazer. Também sua atuação como se estivesse “ao vivo” interpelando diretamente o público, que inovou a linguagem visual e o registro da fala na televisão, reflete e ao mesmo tempo revela o caráter de “urgência” de sua intervenção, como uma “necessidade” inadiável.
Vamos nos deter na mais polêmica das entrevistas, justamente aquela com um dos emblemas do “povo brasileiro”: o negro chamado Brizola. Já nos referimos ao modo paternalista por meio do qual a televisão brasileira exercitou o mais cru autoritarismo ao lidar com os pobres “apagando”, por meio de fingida intimidade, uma distância social evidente (postura que, de resto, ela não inventou, mas que reproduzia modos de ser e procedimentos da própria sociedade). Também mencionamos o papel que a TV Globo se arrogou na construção de uma “imagem” do povo brasileiro, da qual praticamente assumira os direitos de propriedade.
O povo brasileiro é uma entidade que esteve desde sempre na mira dos políticos; mas foi também objeto de profundas indagações por parte dos antropólogos, dos sociólogos, dos cientistas políticos, além de desafiar o entendimento da esquerda em todos os seus matizes e, também, o do Cinema Novo – particularmente o de Glauber. Quando o diretor chama o negro Brizola de “representante do povo brasileiro”, ele tem em mente essas várias facetas que a questão assume no cenário cultural e político do país; mas por se tratar de uma intervenção na televisão, é nesta que o diretor se inspirará para encontrar o tom de crítica política de sua fala, a sua impostação adequada.
A impostação de Glauber vem da TV: como notaram os críticos, ela é inspirada no animador Chacrinha, criador de um personagem que os tropicalistas adotaram como uma espécie de “antecessor”: originário do rádio, ele somava às técnicas populares de animação de auditório, nas quais era um mestre, uma construção visual reunindo traços arcaicos da cultura brasileira que viraram clichês (como a melancia pendurada no pescoço) a signos “modernos”, como os da era da comunicação (o telefone gigantesco sobre a grande barriga), combinados com a mesma liberdade com que as escolas de samba carioca “construíam” seus personagens; tudo isto compondo, ao final, a figura do palhaço que podia rir-se e desafiar a todos, por ser o primeiro a não se levar a sério.
Ao usar a figura de Chacrinha, Glauber não “se inspira” na televisão, mas retoma a leitura que dele fizeram os tropicalistas nos anos 60, ao tomarem-no como um de seus emblemas. Do animador ele assume a liberdade de acionar e jogar com signos contraditórios, o tom farsesco, desaforado: era inspirada no seu gesto de jogar comida para o público e num de seus motes “Vocês querem bacalhau”? a frase com que o diretor abria seu programa: “Alô, alô, povo do sertão, carne, arroz e feijão”. Ao adotar a mesma postura debochada e galhofeira nas suas entrevistas, Glauber explicita a distância social entre entrevistador e entrevistado – uma distância que a prática jornalística procura disfarçar com diferentes técnicas e que o diretor, ao contrário, não quer ocultar. É justamente o modo de jogar com essa distância que constitui o eixo da entrevista com Brizola.
As vozes
Glauber foi sempre uma figura forte, de opinião, que fez valer sua persona em inúmeras circunstâncias. Também evocamos o termo “personagem” a propósito de sua atuação. Mas algo a mais se passa nessa entrevista, algo que se repete também nas várias intervenções do nordestino Severino – na verdade o responsável pelos cabos no programa, que aparece muitas vezes em vez de ficar detrás da câmera, é entrevistado e assume diferentes papéis. Agora é hora de precisar que não se tratava propriamente de “persona”, nem de “se fazer personagem”- como é hoje tão corriqueiro – mas de uma operação de outra ordem. Para tanto, há ainda um longo caminho a percorrer.
Como Glauber tem uma concepção política da entrevista, ele a utiliza para explicitar uma relação desigual de forças, utilizando criticamente a distância que o separa do entrevistado para expor as relações de poder na sociedade brasileira. Atuando na contracorrente dos jornalistas sempre “amáveis” com o entrevistado, que agem como detentores de um mandato do leitor e como se fossem, eles próprios, isentos de opiniões e de compromissos, Glauber sempre manifestava sua opinião; além de assumir a distância que o separa de seu entrevistado, ele tomava a pergunta “como a faca que corta na carne do outro” para por em evidência as formas que assume a dinâmica do poder na sociedade brasileira. Em vez de entrevista propriamente trata-se do recurso à forma-entrevista para uma mise-en-scène do exercício do poder e dos seus diferentes discursos, por um lado; por outro, das modalidades de fuga ou das formas de resistência a ele.
A entrevista anunciada fazia esperar o líder Leonel Brizola, então no exílio. Mas esse é o apelido de um negro favelado, apostador de cavalos e torcedor do Flamengo. No lugar do branquíssimo caudilho populista, cuja volta assinalaria a abertura política, um homem do povo, negro. Mas que povo, exatamente? Por certo não se tratava da visão das elites, nem da representação consagrada pela TV; nem tampouco daquela construída nas imediações da esquerda e até no cinema. O Brizola de Glauber está em sintonia com a abordagem “do povo” na cena do comício do líder populista em Terra em Transe; mas já não se trata de ficção e sim de alguém capaz de reações próprias, que não revelará nem a fraqueza de Jerônimo nem a rústica revolta do homem do povo do filme.
A cena se passa na rua, lugar onde, ainda não se faziam entrevistas e onde líderes políticos habitualmente não se veem. Glauber faz desabar sobre Brizola, como um opressivo muro de linguagem, uma saraivada de perguntas; não inquire propriamente, mas parece “esgrimir” suas perguntas. Não espera pelas respostas, acumulando novas perguntas. Se o diretor usa a faca de que fala Canetti, não é propriamente para “separar” as partes, mas para expor a prepotência do entrevistador que “corta” a palavra, pondo em cena a relação de poder estabelecida pela entrevista como estratégia crítica de outras formas de poder em exercício na sociedade.
E que perguntas! Uma saraivada de temas políticos (reforma agrária, diretas, Figueiredo, o próprio xará Brizola…), que o entrevistado evidentemente não sabe responder. São variadas as nuances das perguntas e muitas as mudanças de estratégia da entrevista: Glauber passa do autoritarismo mais cru ao paternalismo mais benevolente, “temperando” com futebol e samba o tom de sua fala. Por meio dessa caricatura da TV, são expostos os vários discursos do poder que baixam seu muro de linguagem sobre os desapropriados de fala e, ao mesmo tempo, a sua outra face: a benevolência do paternalismo. Glauber assume a voz de comando não apenas ao impor suas perguntas e cortar as respostas; ele puxa o entrevistado pelo braço, muda-o de lugar, reclama da sua falta de empenho, se faz brincalhão, fala com os passantes – tudo entra no quadro – obrigando a câmera a movimentos inusitados, a desenquadramentos que tornam a cena de uma vivacidade então desconhecida na televisão.
Por que a expressão “personagem” não parece adequada a tal atuação? Glauber não está propriamente “preenchendo” um papel quando adota a voz de comando; ao contrário, ele parece ter se “esvaziado” de seu papel (se é que há um), de qualquer papel ao assumí-la, para se deixar atravessar pelas muitas vozes de mando que expressam, de diferentes maneiras, as forças dominantes na nossa sociedade. Em sua análise dos programas, na qual dá ênfase à persona de Glauber, Regina Mota menciona uma pluralidade de vozes na voz de Glauber: do pregador e do missionário, do coronel, figura arcaica (mas nem tanto!) de um modo de exercer o poder, do Chacrinha. Estas e muitas outras vozes fluem, com efeito, por meio da fala de Glauber: a do latifundiário, a do senhor, a do político, a do intelectual de esquerda (que Glauber sempre criticou), a dos próprios jornalistas, a dos apresentadores de televisão, último e menos perceptível elo dessa longa cadeia de mando – todas embaladas na voz do Chacrinha, por meio da qual o diretor, na forma do deboche, atualizará o mando. Trata-se de uma “sinfonia do mando” sempre temperada, como convém numa sociedade paternalista, pelo tom “simpático”, pela “intimidade” que transpõe distâncias quando se exerce em terrenos “comuns”. Mas o diretor nem as incorpora, como um personagem, nem se soma a elas, como persona; ele as vocaliza.
Em seu Mil platôs Gilles Deleuze e Félix Guattari propõem o conceito de agenciamento coletivo de enunciação, que lança luz sobre a fala de Glauber. Não há enunciação individual, dizem os autores, nem sujeito da enunciação. Sabemos que não somos proprietários do que dizemos; muitas vozes falam pela nossa voz sem que possamos discernI-las. Toda enunciação é coletiva, dizem os autores, mas o caráter social da enunciação só é intrinsecamente fundado (na linguagem), se pudermos mostrar como ela remete por si mesma a agenciamentos coletivos. “Só há individuação do enunciado e subjetivação da enunciação na medida em que o agenciamento coletivo impessoal o exija e o determine, escrevem os autores. Este é o valor exemplar do discurso indireto e do discurso indireto livre: não há contornos distintivos nítidos, nem encaixamento de sujeitos de enunciação diversos, mas um agenciamento coletivo que determina como conseqüência os processos relativos de subjetivação, as designaçãoes de individualidades e sua distribuição movente no discurso. Não é a distinção de sujeitos que explica o discurso indireto, é o agenciamento tal como aparece livremente no discurso que explica todas as vozes presentes numa voz coletiva”.
Ao “vocalizar” as vozes de comando Glauber se faz veículo dessa enunciação coletiva, conferindo-lhe o valor imediato de um agenciamento político: elas fluem na sua fala e são desnudadas pelo uso da forma-entrevista (lugar de confronto pela palavra) como instrumento de crítica – uma crítica que terá lugar justamente na televisão, veículo por excelência do comando e da manipulação em massa.
Mas lembremos que Canetti evoca também modos de “escapar” ao poder da pergunta. Não responder, responder outra coisa, se esquivar. Brizola, o negro favelado também conhece, a seu modo, as vozes de comando atuantes na sociedade. Aprendeu, não se sabe a que custo, a lidar com elas. Sem se deixar “apertar” pelo muro de linguagem erguido pelo interlocutor, ele faz exatamente como sugere Canetti: esquiva-se das perguntas difíceis. De política diz, sem se rebaixar, que “não entende patavina”. Dos políticos, do presidente, diz que são “boas pessoas”, arranjando-se para não ficar mal com ninguém. Assumindo um nacionalismo corriqueiro, aceita criticar Pelé por ter ficado nos EUA – mas gostaria de ser como ele. Como o mais acabado clichê do “povo”, gosta de futebol e de samba, torce pelo Flamengo. Como se costuma dizer, Brizola “se vira bem” na situação, encontrando um jeito de escapar à voz de comando pelo “jogo de cintura”, pela fala esquiva 6.
6 Glauber pode inverter a situação, quando é ele o entrevistado. Na entrevista que concedeu a Célia Portela, sua crítica à figura do jornalista é arrasadora. O espaço fechado não se identifica – talvez seja uma sala de montagem. A jornalista, toda maquiada, está sentada num banquinho giratório – o que já rompe com qualquer “estabilidade” da parte de quem pergunta. Glauber vai, de fato, fazê-la “balançar”: não apenas “literalmente”, mas no seu papel de entrevistadora. Não responde sua única pergunta e fala do que bem quer, brandindo a Veja no ar. De pé, não pára de se movimentar, obrigando a câmera a perseguí-lo e impedindo que se constitua “a cena” da entrevista: é praticamente impossível captar os dois interlocutores juntos; muito menos a jornalista, patética no seu silêncio constrangedor. Quando Glauber finalmente “pede” a pergunta, a jornalista já perdeu o pé. Sem ação, ela conclui que “está respondida a sua pergunta” e ele ordena, como diretor: então corta, porque já acabou….
Glauber encerra o programa dizendo que “está passando o poder ao povo”, numa última provocação ao projeto voluntarista de parte da esquerda brasileira e do próprio cinema. Projeto que, longe de estar morto, ressuscitaria anos mais tarde, sob novas modalidades: afinal, a conquista da palavra, o direito à palavra, dar a palavra ao povo são temas que ressurgem com força no cinema brasileiro a partir dos anos 80 e são retomados após a chamada “retomada” dos anos 90 não apenas como objeto de várias obras, mas de acalorado debate.
2.
Ao considerar o insistente recurso à entrevista como método de investigação por grande parte dos documentaristas brasileiros a partir dos anos 90, é preciso ter em mente esse arrojado uso político que Glauber Rocha fez do ato de perguntar. É verdade que várias das inovações consagradas pelo diretor se impuseram, tanto na prática corriqueira do jornalismo televisivo, quanto no cinema. Despojadas de sua veemência política, no entanto, elas foram acionadas em nome da eficácia da comunicação, quando não entraram no cômputo dos recursos retóricos. Continua valendo, desse modo, a interrogação sobre o caráter político que assume o ato de perguntar nesse novo contexto, sobre o modo segundo o qual tem sido acionada a dupla pergunta-resposta nessa produção mais recente: Como se pergunta? Por que se pergunta? Por que se aceita responder? Por que se entra nesse “jogo” desigual, em que uns acabam podendo mais que os outros? Que situações estão sendo criadas no documentário para propiciar o ato de perguntar?
A “virada subjetiva”
São grandes as transformações que o Brasil conheceu a partir dos anos 80, quando Glauber encerrou sua participação no Abertura. Elas não se limitam ao fim da ditadura, com todos os seus desdobramentos, mas derivam também da conjuntura mundial: com a globalização, a queda do muro, o mundo se redimensionou do ponto de vista econômico e político, transformando-se profundamente o vínculo entre representação cultural e imaginário político. Os novos temas e as novas problemáticas que emergiram no campo cultural pediram novas posições dos criadores, dos intelectuais. No cinema, essas transformações vêm mostrando a necessidade de se pensar, do ponto de vista crítico, uma redefinição do estatuto do político nos filmes.
O que caracteriza a produção cultural das últimas duas décadas e meia é sua filiação ao que a crítica Beatriz Sarlo chamou de “virada subjetiva”, que se manifesta tanto como tendência acadêmica quanto no mercado de bens simbólicos e se propõe a reconstituir “a textura da vida”, a verdade contida na rememoração da experiência, e a promover tanto a valorização da primeira pessoa como ponto de vista, quanto a reivindicação de uma dimensão subjetiva. Um ambiente ideal, portanto, para o cultivo da entrevista. Não sem alguma ironia, a crítica avança: “A atualidade é otimista e aceitou a construção da experiência como relato na primeira pessoa, até mesmo quando não acredita que todos os demais relatos possam remeter de modo mais ou menos pleno ao seu referente” 7. É por isto que se multiplicaram nessas duas décadas, em diferentes formas, as narrações chamadas de “não ficcionais”: nos jornais, na etnografia social e na literatura, abundam os testemunhos, as histórias de vida, as entrevistas, as autobiografias, recordações e memórias, os relatos identitários.
7 Sarlo, B. Tiempo Passado. Cultura de La memória y giro subjetivo, Una discusión. Siglo XXI Editores Argentina, 2005. P. 49 e ss.
Sarlo observa que esta dimensão intensamente subjetiva, “um verdadeiro renascimento do sujeito que se acreditava morto nos anos 60 e 70”, é uma das características do presente, o que acontece igualmente nos discursos cinematográfico, plástico, literário e midiático. Num país como a Argentina, em que o testemunho foi alçado a um papel político decisivo após o fim da ditadura, a crítica vê com toda reserva a expansão de um “movimento de devolução da palavra, de conquista da palavra e de direito à palavra”, reduplicado por “uma ideologia da “cura” identitária por meio da memória social ou pessoal” 8. Tal “reordenamento ideológico e conceitual” da sociedade e do passado, concentrado sobre os direitos da subjetividade coincide, de acordo com Sarlo, com uma renovação análoga da cultura e dos estudos culturais, onde a identidade dos sujeitos voltou a ter o lugar que, nos anos 70, foi ocupado pelas estruturas. Sarlo vê nesse movimento uma restauração da “ razão do sujeito que, há décadas atrás, foi mera “ideologia” ou “falsa consciência” (…). Ela sugere que sejam examinados os privilégios desse “eu” que há três ou quatro décadas despertava suspeitas; e que se promova uma crítica do testemunho, cujo valor jurídico não está em questão, mas cujo valor cultural e estético deve ser questionado.
8 Itálico meu.
A abordagem crítica das novas modalidades da entrevista deve levar em conta esse ponto de vista que interroga a restauração do sujeito num lugar que não mais lhe cabia, modalidades em que a subjetividade toma a dianteira e a entrevista se torna um recurso freqüente no cinema.
O “encontro” no lugar do confronto
A entrevista pode preencher várias funções no documentário, mas, sem dúvida, é aquela que abre as portas ao relato da experiência e aciona os mecanismos da subjetividade que tem sido mais prestigiada nos últimos anos. Basta atentar para o sucesso de uma obra como a de Eduardo Coutinho, baseada, como definiu Consuelo Lins, “no encontro e na interação com os personagens” 9, da qual a entrevista é, justamente, o elemento constituinte – se não o constituinte dramático. Como se sabe, Coutinho teve grande influência sobre o documentário brasileiro dos últimos anos; e é em virtude desse seu papel que deve ser examinado seu modo de conceber e usar a entrevista.
9 Lins, C. O documentário de Eduardo Coutinho. Televisão, cinema e vídeo. Zahar Editores, Rio de Janeiro, 2004, p. 84.
A entrevista – que Coutinho prefere chamar de “conversa” – não pretende ser, nos filmes do diretor, um lugar de confronto em que duas forças se medem, se aquilatam, e se enfrentam – como vimos no caso do Abertura de Glauber Rocha – mas de um “encontro”, de um encontro “entre iguais”. Egresso das fileiras do Cinema Novo e do intenso debate político dos anos 60, Coutinho sabe que essa “igualdade” não existe; mas ela pode ser “criada” na situação da filmagem e será, nas palavras do diretor,, “utópica” e “provisória”. É em função desse papel decisivo atribuído à situação da filmagem – ou melhor, ao ato da entrevista – que se torna fundamental o “método” de trabalho do diretor. Composto por elementos díspares: locação única, uso do vídeo, a equipe mostrada na imagem, pesquisa prévia na locação, limitação a um único encontro entre entrevistador e entrevistado – a soma desses elementos deve redimensionar a dinâmica pergunta-resposta aparando-lhe as arestas, facilitando e conferindo um caráter “natural” à interlocução. Trata-se, na verdade, de construir determinado “contexto” para a pergunta, de modo que ela não surpreenda, trata-se de domá-la, de a tornar, enfim, “inofensiva”, liquidando portanto aquele seu potencial político que se afirmaria, justamente, na diferença . Na entrevista de Coutinho a pergunta deixa de ser o lugar do confronto, como definiu Canetti, buscando ser, antes lugar da aproximação, do “entendimento”.
A conjugação entre os diferentes elementos do “método” tem por função facilitar a abordagem do interlocutor – ou seja, preparar o campo para a pergunta – e deixá-lo, na medida do possível, à vontade para respondê-la. Familiarizado de antemão com a sua história, o diretor não precisa recorrer à estratégia insidiosa do cirurgião que “corta na carne”, provocando dor em certas partes da vítima para saber de outras. Ele já sabe, por antecipação, o que pretende querer saber. Ao perder sua função de atender a uma curiosidade, ou a um desejo de saber, na entrevista de Coutinho a pergunta se torna, portanto, inoperante, “supérflua” nessa sua função por assim dizer “essencial”. Na verdade, para o entrevistado a função da pergunta é criar a ilusão de ele que está sendo interrogado, de que atende a uma curiosidade legítima – assegurando a “naturalidade” que autentifica a sua cena 10; para o diretor, enquanto isso, a pergunta é fingimento, jogo de uma “cena” de sedução e “captura” do interlocutor.
10 Para o crítico Ismail Xavier, no centro do método de Coutinho está a fala de alguém sobre a sua própria experiência, alguém escolhido “porque se espera que não se prenda aos clichês de sua condição social”. Busca-se, para além desses clichês, “a expressão original, uma maneira de fazer-se personagem, narrar, quando é dada ao sujeito a oportunidade de uma ação afirmativa”, escreve o crítico.
Coutinho sabe que não há “igualdade” na situação da entrevista, ele que já definiu seu “ato de filmar” como “uma experiência de igualdade utópica e provisória” 11. Se mesmo utópica, a “igualdade” alcançada por Coutinho, tem o dom de anular – de anular de fato – a “diferença” fundadora do político, é porque seu cinema evacua o político, transpondo-o para o terreno da “utopia”.
11 Citado por Lins, C. Idem, ibidem. O próprio diretor evoca a metafísica ao descrever a filmagem como “momento único, não houve antes, não há depois”; o que pode ser relacionado, numa outra chave, com outra de suas afirmações: “o que o outro diz é sagrado”.
A mão dupla do dispositivo
Filiados à “virada subjetiva” apontada por Sarlo, quando o eu, o sujeito e a identidade ganham evidência, os documentários brasileiros experimentaram, dos anos 90 em diante, diferentes métodos para evacuar, de diferentes maneiras, a distância que separa quem pergunta de quem responde – sobretudo quando se trata de população pobre, a mais prestigiada pelo gênero. Ao mesmo tempo, em um campo fronteiriço com as artes plásticas, se experimentavam novas estratégias e novas poéticas que não mais focalizavam essas subjetividades ou identidades enquanto “pertencentes” a tal ou tal indivíduo, mas, desalojadas deles, como “tema”, ou melhor, como questão em si. Ao se desvencilhar da velha estratégia fundada no par pergunta-resposta, impunha-se, assim, a necessidade de uma “invenção” de novos métodos de abordagem.
Um dos exemplos mais sugestivos desse novo modo de tratar o tema da identidade e da subjetividade está no documentário Rua de Mão Dupla (2003) de Cao Guimarães. Em vez de lidar diretamente com os indivíduos, o diretor imaginou um sistema de refração, por meio do qual um indivíduo só aparece através de traços captados indiretamente – na sua casa, mais propriamente – pelo olhar de outro que, por sua vez, não se encontra diretamente em escrutínio mas comparece no filme enquanto “mediação” do olhar do espectador.
Trata-se, na verdade, de um experimento. Três pares de indivíduos que não se conhecem são escolhidos para passar 24 horas na casa um do outro. Os critérios de escolha não são explicitados e deles só saberemos o nome e a profissão. Todos têm uma câmera, com a qual devem filmar a casa que os recebe, com o intuito de “descobrir” como é o seu dono (idade, sexo, atividades, gostos, etc). O documentário é composto pelas imagens produzidas pelos seis e mostradas, por par e simultaneamente, na tela do vídeo dividida ao meio. Depois, sempre com a tela dividida, cada um faz uma espécie de “retrato imaginado” de seu anfitrião diante da câmera enquanto, na outra imagem, este assiste à cena sem comentar.
Em Rua de mão dupla não há o par pergunta/resposta; o diretor não apenas não entrevista ninguém, como não aparece no filme, interferindo apenas por meio da organização dos depoimentos, tomados sempre com a câmera fixa e na distância tradicional. Além de não passar pela entrevista, quem fala no filme não está falando de si, não se “coloca como sujeito”, mas fala de outro, de um desconhecido. A esta fala, mais um dado se incorpora, a imagem que cada um faz da casa do outro.
Concentremo-nos nas imagens produzidas pelos participantes. O maior interesse delas é a sua dupla carga de significação: elas não se limitam a significar “por si mesmas” (no sentido de que um vaso, uma torneira são reconhecidos por nós), mas, sobretudo, “carregam” uma significação “indireta”, ou melhor, “em suspenso” – aquela que o visitante procura nos objetos ou lugares e que lhe parece apropriada para definir uma pessoa. Na verdade, a pergunta “evacuada” do experimento foi delegada à câmera que, manejada pelo visitante, indaga os objetos e lugares da casa do desconhecido. Por virem de amadores, as hesitações, as pausas na criação dessas imagens deixam transparecer claramente como cada um procura e acha os objetos que lhe parecem mais “significativos”; ao mesmo tempo elas mostram como, ao fazer suas imagens, o visitante projeta no outro a sua sombra.
O traço comum a todas essas imagens produzidas por indivíduos diferentes é a insistência no zoom. Instalados na casa cujo proprietário deve ser descrito, todos se aproximam canhestramente, por meio do zoom, das coisas, dos lugares, como se lhes endereçassem uma pergunta, como se quisessem deles “extrair” toda significação. Ora, esses closes lembram a descrição que Canetti faz da situação arcaica que corresponde à “primeira pergunta” (nome?) e à “segunda pergunta” ( endereço?). “Nela identidade e lugar ainda coincidiriam (…)”, escreve o autor. “Essa situação arcaica se verifica no contato hesitante com a presa. Quem é você? Você é comestível? O animal em sua busca incessante por alimento toca e cheira tudo quanto encontra. Mete seu focinho em toda parte: você é comestível? Que gosto você tem? A resposta é um odor, uma reação, uma rigidez inanimada. O corpo estranho é também seu próprio lugar: cheirando-o, tocando-o é que é conhecido ou – traduzindo para nossos costumes – é nomeado” 12.
12 Canetti, E. Op. Cit, p. 287.
Essa “pergunta muda” feita pela câmera não constitui, evidentemente, uma experiência primitiva, já que se trata de um gesto definido no campo da cultura. Mas, por não passar pela palavra que dominamos e sim pela imagem, com a produção da qual não estamos familiarizados, o estranhamento provoca movimentos que tem muito do gesto de tocar e de cheirar do animal. Cada objeto “tocado” pelo “nariz” da câmera deve ser, supostamente, “revelador” de gostos, de escolhas, de padrões, permitindo descobrir quem é o anfitrião; ao mesmo tempo, por atender a uma demanda assim tão imediata, as escolhas feitas por cada hóspede parecem reveladoras de quem seria ele. E o espectador fica, por sua vez, passando de uma a outra figura, sem que seja possível se deter numa delas, já que o que o dispositivo busca é justamente essa impossibilidade de decidir, essas idas e vindas, essa constante indagação sobre a identidade: do dono da casa, do hóspede, e a nossa própria.
O trabalho exigido do espectador é, nesse sentido, de grande complexidade. Numa operação duplicada, eles são levados, com efeito, a “processar” todo esse processo, confrontando-se tanto com o autor das imagens e com suas projeções quanto com o seu objeto oculto – o dono da casa – e, enfim, consigo mesmo enquanto alguém que “processa” o próprio processo. Esse tráfego intenso de significações obriga a um trabalho constante de leitura, de decifração, de remissões cruzadas que revolve ainda as camadas estabelecidas da percepção do espectador, e desafia a confiança “cega” que ele deposita no próprio olhar.
A fala de cada um é também reveladora dessa mesma indeterminação. Às vezes o visitante tem dificuldade em extrair do amontoado de coisas uma abstração, “um personagem” – isto é, um significado que as ultrapasse. E quando o “retrato” do anfitrião finalmente vem à tona, ele parece mais revelador de quem o faz do que de quem estaria sendo representado.
De tudo isso, o que emerge é essa “construção”: do olhar, do discurso, do outro, de nós próprios. Em vez de nos contemplar com a solidez de sujeitos definidos, donos de sua escolha, o dispositivo de Cao revela o próprio processo de construção das identidades, as linhas (grosseiras) por meio das quais fomos “esboçados” (pela história? Pela sociedade? Pela cultura?), nossa baixa “definição”, os conteúdos que não são propriamente “nossos”, mas “comuns”, partilhados por tantos, a nossa unidade impossível. Somos ao mesmo tempo “muito pouco” e “muitos” – ou seja, não sabemos quem somos; e o que o dispositivo faz é a mise en abîme da identidade, revelando-a como construção (histórica, cultural, ideológica).
Um dos participantes parece levar o dispositivo até as suas últimas conseqüências. O poeta negro,para quem ser recebido na casa de um desconhecido, que generosamente lhe abre as portas e deixa à vista sua intimidade é um gesto comovente. Único a não elaborar um retrato de seu personagem, ele apenas acumula perguntas, aponta sinais, se angustia com a força do mistério desse outro ausente. “Quem será ele?” Quem somos nós? São as únicas perguntas enunciadas no vídeo – a primeira reatando justamente com aquela que pôs o dispositivo em ação, e a última “encerrando” o experimento do poeta, e dando por encerrada a função do dispositivo.
Em Rua de mão dupla não há pergunta formulada ao outro, como na entrevista. Não há confronto, nem tampouco encontro. Mas é possível “chegar” a uma pergunta, à mesma que o personagem do poeta acaba endereçando a si mesmo: quem é ele, quem sou eu, quem somos nós? Pergunta sem resposta, esta não é mais uma pergunta que se faz no registro do poder, mas uma que só pode ser feita porque foi perdido o poder que estávamos certos de deter, no mais fundo de nós – o de sabermos quem somos. Uma pergunta que só pode ser feita quando já se sabe que ela não tem resposta.
Se entendermos a questão da identidade numa chave política, podemos dizer que é o dispositivo criado por Cao Guimarães que passa a acionar a dimensão política justamente ao por em dúvida a suposta unidade do indivíduo, a sua “identidade”. Trata-se de um dispositivo de mão dupla, capaz de operar, ao mesmo tempo, como experimento e como narrativa, para quem participa, e como narrativa e experimento para o espectador.
Glauber com o povo brasileiro, Coutinho com o encontro e Cao Guimarães com a desconstrução – o tema da identidade perpassa, de modos diferentes, as três propostas. Se o trabalho de Glauber evoca o povo brasileiro não se trata, no entanto, de uma indagação sobre a sua identidade. O que lhe importa não é saber quem ele é – afinal, todos os poderes vocalizados pela sua fala não param de dizer quem ele é – mas convocá-lo enquanto força, cuja vitalidade e plasticidade lhe conferem o dom da resistência ao poder, ao poder do discurso.
Coutinho também trabalha com gente do povo. Voltada de início para a experiência e a fala dos sujeitos, sua obra caminhou para uma crítica do documentário, pondo em questão as dualidades que o fundam, como os pares verdadeiro/falso, realidade/ficção. Tal ponto de vista repousa, entretanto, sobre o jogo com outra dualidade, sujeito/personagem, jogo que só funciona ao se afirmar os dois pólos dessa oposição fechando o círculo vicioso da identidade 13. O trabalho de Cao Guimarães também opera, embora de modo enviesado, no universo da identidade. Mais precisamente, no seu limite – quando ela se perde nos meandros da sua própria construção. Se nos referirmos à chave de leitura da obra de Coutinho, no filme de Cao não se trata mais nem de sujeitos, nem de personagens; o experimento revela, a todos, como papéis.
13 Sujeito ou personagem, esta aparente ambigüidade se desdobraria em Jogo de Cena, onde o relato da história das entrevistadas é repetido pelas atrizes, a ponto de se diluir a autoria da fala. Colocar em questão a “verdade” do relato por meio de sua “distribuição” entre diferentes vozes, entretanto, não vira o jogo no que ele tem de fundamental – a “cena” continua sendo a mesma, a do sujeito. Ismail Xavier notou que os entrevistados de Coutinho se constroem como personagens clássicos – isto é, ainda dentro dos limites dessa mesma cena; um lugar de onde a “representação” das atrizes não pode subtrair esses personagens, mas só “encarná-los”. Sabemos que o personagem moderno não se sente bem nesta cena, da qual é difícil escapar. Indiquemos brevemente outro caminho, sugerido por Jean Jourdheuil. Ele propõe a noção de “papel”, designação que conferiu ao Hamlet de Heiner Müller, por meio da qual este deixa de ser o sujeito de uma história para se tornar uma figura atravessada por forças históricas, afetivas, conscientes, inconscientes, físicas e metafísicas que o acionam dentro de contextos complexos. Nesse sentido, o ator não “encarna” mais uma dada subjetividade, real ou fictícia, mas se constitui ele próprio como vetor de um campo de forças em movimento. In Muller, H. Manuscrit de Hamlet-Machine. Les Editions de Minuit, Paris, 2003.
Bibliografia
Canetti, E. Massa e poder. Tradução de Sergio Rellaroli. Companhia das Letras, São Paulo, 1995.
Mota, R. A épica eletrônica de Glauber Rocha – Um estudo sobre cinema e TV. Editora da UFMG, Belo Horizonte, 2001.
Publicado in Migliorin, C. (Org.). Ensaios no real – O documentário brasileiro hoje. Azougue Editorial, Rio de Janeiro, 2010.