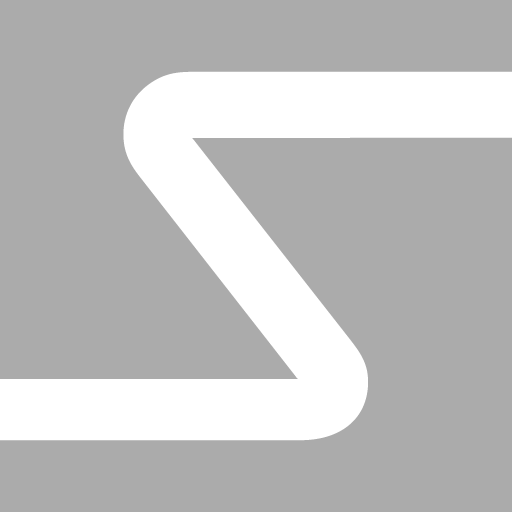51.072 345 de brasileiros são a favor da tortura. 51.072 345 de brasileiros admitem o armamento da população. 51.072.345 de brasileiros aceitam a atuação das milícias. 51.072.345 de brasileiros concordam com a justiça feita pelas próprias mãos. 51.072.345 de brasileiros…
Imagens de conflito: o 11 de setembro, os reality shows e as estratégias de mobilização pela imagem
No filme “Elogio do amor”, de Jean-Luc Godard, um personagem diz, num dado momento, a respeito do documentário: nunca soube bem o que é isto. A interrogação tem, de fato, atravessado a história desta modalidade cinematográfica, sempre assombrada por uma promessa de verdade que, se por um lado lhe impôs limites, fez ao mesmo tempo dela um campo rico de discussões e experimentos, que têm contribuído para impulsionar o entendimento da imagem. Esta promessa, de resto, sempre rondou as imagens em movimento, donde a atribuição a elas, como um legado “natural”, de qualidades como a autenticidade, a transparência, a fidelidade que, embora já deslocados do foco principal dos estudos da imagem, são ainda decisivas para a construção do ideário da informação. Se o documentário foi visitado por tal sorte de compromisso com a verdade, diferentemente, no entanto, da informação jornalística, que nunca pôs em questão suas premissas, ele inaugurou uma profícua discussão sobre este regime de imagens, que tanto lhe permitiu reivindicar a legitimidade das suas imagens, a acreditar na sua plenitude, quanto o tem levado a pôr sua inocência em questão, a trabalhar a tensão entre imagem e realidade, ou a testar novas dinâmicas na articulação entre sons e imagens.
As imagens de conflito não costumam levantar as dúvidas do personagem de Godard. Elas lidam com questões prementes do tempo presente, que por sua própria natureza já solicitam um envolvimento maior tanto da parte de quem as fabrica quanto do seu espectador. Além disso, o estado de emergência em que, em geral, são criadas, a segurança com que são identificadas, a confiança que despertam, a carga afetiva que mobilizam e a adesão que podem acarretar não contribuem, por sua vez, para propiciar a reflexão. Se as imagens documentais têm suas maneiras próprias de “negociar” com o mundo – alguns dirão, elas são um “discurso” – as imagens de conflito parecem ter sido diretamente arrancadas dele. Elas são feitas quase sempre em situação de emergência, muitas vezes de improviso, e com certeza tiram proveito dessa urgência que as condena a um certo comedimento ou austeridade quanto ao uso de meios e de recursos da linguagem, a uma certa homogeneidade estilística – restrições que em geral as inocentam de qualquer articulação discursiva ou retórica. É por isto que elas pretendem escapar à tão temida manipulação que assedia suas congêneres e que respondem, a seu modo, a uma promessa de legitimidade que nunca parou de interrogar as imagens em movimento.
Os cinéfilos sabem como a economia de meios, a parcimônia no uso dos recursos da linguagem tem sido prestigiada ao longo da história do cinema – sobretudo do documentário – a ponto de constituir a base de um projeto estético. As imagens de conflito não chegam propriamente a tomar um partido estético; pelo contrário, se é possível reconhecer nelas alguma conformação, será justamente por meio de seu aspecto “mal acabado”, aspecto que resulta, com certeza, da urgência com que são produzidas, da falta de tempo para decisões e escolhas – restrições que contribuem, por sua vez, para assegurar tanto a sua legitimidade quanto a forte conotação afetiva que potencializa seu desempenho. É à distância do olhar, ao recuo em relação ao objeto, ao não envolvimento que se costuma associar o equilíbrio da visão supostamente objetiva. Sabemos como os protocolos da informação opõem emoção e envolvimento a distância e recuo diante dos acontecimentos, e como tem sido árdua a tarefa de contestar esse seu projeto de objetividade. O que talvez seja peculiar às imagens de conflito é que o envolvimento que preside à sua produção contribui, igualmente, para assegurar a sua legitimidade. As mesmas marcas da fatura intempestiva, que elevam sua temperatura, atuam também como uma espécie de autenticação, ou de “assinatura” do real.
A máquina mundial de informação tem, evidentemente, grande apreço por este tipo de imagem, por sua capacidade de atuar, ao mesmo tempo, em dois tabuleiros – o da emoção e o da objetividade – sem por em risco o primado da verdade. Tomando as imagens ao vivo como o exemplo mais acabado de imagens de conflito, procurarei por em foco, em vez da sua suposta objetividade, o seu potencial afetivo, a sua capacidade de “tocar” o espectador. Para tanto abordarei as imagens das torres do 11 de setembro, que todos têm na memória; e outras imagens que não são, à primeira vista pelo menos, de conflito: as do primeiro Reality show brasileiro “Casa dos Artistas”. No primeiro caso, trata-se de transmissão ao vivo de alcance mundial concentrada num tempo curto: menos de um dia de duração; no segundo este alcance é reduzido às dimensões da transmissão nacional, estendendo-se, no entanto, sua duração para um tempo sem limites, o tempo real – as imagens ficam 24 horas no ar. Tentarei mostrar como, do primeiro ao segundo caso, passa-se de uma mobilização total a uma mobilização individual; e como, da intensidade emocional máxima das poucas imagens das torres se passa a uma “rarefação” da emoção, a um estado de “disponibilidade” da imagem, no qual todas elas se equivalem entre si.
Por sua própria natureza, as imagens de conflito frequentam territórios de exceção, lidam com manifestações do “extraordinário” e podem tocar no que Roland Barthes chamou de “intratável”, no horror – donde o caráter muitas vezes ambíguo da sua repercussão: queremos e ao mesmo tempo não queremos vê-las. Duas posturas cujo contraponto, no campo da criação das imagens, estão representadas, de um lado, na afirmação de Adorno: a arte é impossível após Auschwitz; e, de outro, na de Stockhausen: o atentado do 11 de setembro foi a obra de arte suprema. O terrorismo é um desses exemplos extremos que as imagens de conflito são levadas a testemunhar.
Em seu livro Mao II (l991), o escritor americano Don DeLillo procura entender o prestígio do horror no nosso mundo, ao analisar a força devastadora do que ele chama de “narrativa terrorista” e as razões pelas quais ela teria substituído a narrativa do romancista. Para DeLillo, ao declínio dos escritores como “formadores de sensibilidade e de opiniões” corresponde justamente o aumento de influência dos terroristas sobre a consciência das massas. O terror é o único ato significante desde que a sociedade foi reduzida à conspurcação e à saciedade, escreve ele. Tudo é absorvido no nosso mundo: o artista, o maluco de rua, todos são tratados e incorporados; só a cultura ainda não descobriu como assimilar o terrorista. Dando continuidade a sua argumentação, o escritor avança que, evidentemente, a confusão pode se instalar quando o terrorista mata um inocente, ( basta ver a polêmica que se instalou após os atentados mesmo entre intelectuais americanos); mas o terrorismo é exatamente a única linguagem que chama atenção, prossegue DeLillo, a única que o ocidente entende. É assim que ele sugere a existência de uma relação, ou de uma certa dinâmica entre o poder da narrativa terrorista e as imagens que inundam o nosso mundo: a linguagem única do terror seria “a forma de dominar a disparada de infindáveis correntes de imagens a que estamos submetidos” [1].
[1] DeLillo, D. Mao II, Editora Rocco, Rio de Janeiro, l997. pp. 170-1.
Como ato terrorista exemplar, os acontecimentos do 11 de setembro de fato tiveram o dom de interromper essa corrente contínua de imagens que nos assolam; mais ainda, ao fazê-lo, eles interferiram no funcionamento da máquina mundial de informação, deixando no ar uma dúvida: quem, de fato, teria feito aquelas imagens? Quem, propriamente, as teria mostrado?
No 11 de setembro a irrupção dos fatos, por si só, já foi extremamente traumática; mas, além disto, também o próprio modo de a televisão abordar os acontecimentos foi profundamente abalado. Diante da catástrofe a televisão não teve de fato, como de costume, o seu habitual domínio das imagens, nem seus jornalistas puderam, como de hábito, assegurar a sua mise-en-scène. Por algumas horas tivemos a impressão de que a televisão ficara como que “imobilizada”, do mesmo modo que suas câmeras, diante das torres; de que ela também fora sequestrada e de que, como suas imagens, ela também se tornara refém.
Os autores dos atos do 11 de setembro não se limitaram apenas a monopolizar as telas do mundo; eles também subverteram o funcionamento corrente do dispositivo televisivo e interferiram na relação habitual entre imagem e acontecimento por meio de uma nova dinâmica entre imagem e som. Sabemos como o som tem sido a base da linguagem da televisão: na tv é a palavra que diz, e se faz acompanhar pelo fluxo de imagens. Como se fossem transparentes um ao outro, esses dois fluxos pretendem assegurar, por sua vez, a “transparência” que sustenta o princípio da informação.
Os atos do 11 de setembro, mais particularmente o episódio das torres, impuseram, de certo modo, uma ruptura entre imagem e som na transmissão ao vivo. Feitas a grande distância – e esse “ponto de vista” já estava embutido na estratégia dos atentados – as imagens das torres não tinham som, nem eram conduzidas nem tampouco se faziam acompanhar do seu som próprio, como costuma acontecer com as imagens jornalísticas.
Além disso, durante o tempo em que a imagem das torres ficou nas telas de TV, não houve voz institucional que lhe fizesse face. O governo não se fez presente e os jornalistas, por sua vez, pouco podiam ou pouco tinham para dizer: tanto quanto os espectadores, eles foram surpreendidos; e, como os primeiros, se limitavam a contemplar e esperar. Suas câmeras, fixas, pareciam hipnotizadas à distância pelas duas torres. Como os espectadores, os jornalistas foram como que “conduzidos” por aquela imagem sem som, por uma imagem que se bastava a si mesma e que ia como que “se fazendo” ali, na hora, e impondo-se às câmeras. Se os terroristas roubaram a narrativa dos romancistas, como escreveu Don DeLillo, os autores dos atentados do 11 de setembro destituíram de sua função os fabricantes de imagens, oferecendo-lhes uma imagem “inteira”, una, sem contra-campo possível. Eles fizeram, ao mesmo tempo, o acontecimento e a imagem e tornaram inoperante, por algum tempo, o modo de representação consagrado pela televisão.[2]
[2] Em seu artigo “L’esprit du terrorisme” Jean Baudrillard notou que, num mundo de “acontecimentos fajutos” e de imagens corriqueiras, o 11 de setembro “ressuscitou”, ao mesmo tempo, a imagem e o acontecimento. Diferentemente do que aqui se sustenta, a tese deste crítico é de que o 11 de setembro fez com que a realidade “absorvesse” a energia da ficção, tornando-se ela mesma ficção. Não é a violência que chega primeiro, escreveu ele, mas a imagem, à qual vem se juntar o “frisson” do real. Retomando um dos seus temas mais caros, para Baudrillard, no 11 de setembro, o real tornou-se “a derradeira ficção”. Le Monde, 3-11-01. pp 10 e 11.
No 11 de setembro os autores dos atentados desencadearam o horror por meio de uma ação de grande impacto, e impuseram sua imagem de intensidade máxima. Em resposta, a máquina mundial de informação adotou, por sua vez, uma estratégia de “gerenciamento do horror” que teve, também na imagem, o lugar privilegiado do seu exercício. Por um lado – e renovando uma estratégia estabelecida desde a Guerra do Golfo – ela passou a “administrar”, com evidente proveito ideológico, a revelação e o ocultamento do horror, determinando que imagens difundir: as dos armamentos, do poder bélico (na Guerra do golfo), a dos heroicos bombeiros (no caso das torres) e que imagens ocultar: as das vítimas, dos seus corpos e seu sangue – estratégia adotada em ambas as situações. Por outro lado, a máquina mundial da informação teve de operar um “realinhamento de significação” que impôs, face ao sentido pleno e unívoco do ato terrorista, uma dinâmica entre “o bem” e “o mal”, com a qual todo o mundo – e todas as imagens – tiveram de se conformar[3].
[3] Tratei deste tema em “Estratégias da imagem”, caderno Mais, Folha de São Paulo, 4 -11-2001
Falando da Primeira Guerra Mundial, o filósofo alemão Ernst Jünger definiu um “estado de mobilização total” que “aciona as massas” e mobiliza, ao mesmo tempo, “cada existência individual para a guerra”. Quando impera esse tipo de mobilização, segundo Jünger, nada mais na sociedade é estranho ao estado de guerra e nós mesmos, no nível mais profundo, estamos voltados para esse processo frenético. “O chefe de esquadrilha que, no fundo da noite, dá a ordem de bombardeio”, escreve ele, “não é mais capaz de distinguir combatentes e não-combatentes, assim como as nuvens mortais de gás se estendem sobre tudo o que vive com a indiferença de um fenômeno meteorológico”. Para que tais ameaças se tornem possíveis, adverte Jünger, é preciso uma mobilização “que não seja nem parcial nem geral mas total, e arrole até a criança de berço. Nenhum átomo sequer é estranho a tal trabalho da guerra, diz ele, e nós mesmos estamos voltados, no nível mais profundo, para este processo frenético”[4]
[4] Jünger, E. L’état universel, suivi de La mobilization totale. Coll. Tel, Gallimard, l990 pp. 112e 113.
Com a declaração de um estado de guerra permanente, a partir do 11 de setembro toda a sociedade foi levada, como descreveu Jünger, a se deslocar para um estado de emergência, que passou a incorporar todos os aspectos da vida de todos, em todo o mundo. Desde o 11 de setembro sabemos bem o que o filósofo quis dizer: todo o mundo se encontra em guerra, em guerra permanente, em estado de mobilização total. E numa sociedade em estado de mobilização total todas as imagens são imagens de conflito; e a mobilização total começa quando nos tornamos seus espectadores.
***
Passemos às imagens de “Casa dos Artistas” e vejamos como elas podem ser tomadas, igualmente, como imagens de conflito.
No Brasil também vivemos uma guerra, uma guerra interna, não declarada, guerra larvar, da qual todos sabem ou sentem, intimamente, que fazem parte. Num país que recalca seu estado de guerra e ao mesmo tempo abusa das imagens, as imagens de conflito tendem a predominar, mas acabam sendo, ao mesmo tempo, despotencializadas. É o que acontece com as cenas, sempre renovadas, das rebeliões nos presídios, das guerras de gangues nas favelas, dos conflitos em torno do MST: de tão frequentes elas acabam se tornando banais, mera paisagem sobre a qual nossos olhos deslizam, quase sem ver.
À primeira vista, as imagens do programa “Casa dos Artistas” não parecem ser imagens de conflito. Mas qualquer uma delas, indiferentemente, pode se prestar ao entendimento do que eu gostaria de demonstrar: também estas imagens, aparentemente inocentes, ecoam o conflito, também elas dizem respeito, tanto de modo direto quanto indireto, à nossa guerra muito particular.
Lembremos, em primeiro lugar, que uma figura bastante familiar dessa guerra – o sequestro – as precedeu e, de certa forma, as introduziu. O sequestro da filha do animador Silvio Santos e a invasão da casa do animador de TV pelo sequestrador antecederam, de alguns meses, o lançamento do programa “Casa dos Artistas”; a transmissão ao vivo do segundo sequestro – a invasão da casa – chegou mesmo a bater a audiência da tv no 11 de setembro. Homem da imagem, Sílvio Santos é ainda dono de grande cadeia de tv na qual, bem sabemos, a violência sempre foi atrativo maior. Naquele dia ela entrou dentro da casa dele, foi exercida contra a sua pessoa. Fernando Dutra Pinto, seu sequestrador, não era, no entanto, um terrorista. Era provavelmente um telespectador, mais um daqueles com quem o animador tanto gosta de dialogar. (Os animadores de auditório, dizem, foram os primeiros a tomar a televisão como um meio de massa próximo do seu público, representando-o na tela como uma espécie de manifestação “primitiva” da interatividade. Nesse sentido, talvez o sequestrador tenha sido uma espécie de exemplo, ao mesmo tempo irônico e trágico, de interatividade levada às suas últimas consequências num país onde as relações são habitualmente definidas pela violência). Diferentemente dos autores do 11 de setembro, no entanto, com seu gesto o sequestrador não queria subverter o funcionamento da televisão; ao contrário, para que seu ato surtisse efeito a televisão tinha que continuar funcionando como sempre funcionou.
E, de fato, foi o que aconteceu. Por ocasião do sequestro, como sabemos, a casa de Sílvio Santos ficou na tela da tv durante todo um dia. Mas, diferentemente das poucas imagens das torres de Manhattan, o lugar foi mostrado de todos os ângulos, enquanto um dispositivo tentacular de informação acompanhava as imagens e mantinha o público a par da negociação. Um homem da imagem, como Sílvio Santos, sabe como ficar no ar, aconteça o que acontecer. E sabe também pôr a proveito as emoções vividas pelo seu público. Quando decidiu lançar o programa Casa dos Artistas, Sílvio Santos escolheu exatamente esse mesmo lugar já sinalizado e investido pela emoção do público: o primeiro programa aconteceu numa casa bem ao lado da sua – dado que não deve ser negligenciado quando se considera a repercussão do programa em todo o país.
Relembremos a história desse tipo de programa de repercussão generalizada. Modalidade televisiva de grande sucesso no mundo, os RS tiveram início na Europa em 1999. E se algo pode os ligar à guerra é precisamente essa década 90, que eles encerram, e que teve início com a Guerra do Golfo (l991) – esta que foi, não por acaso, a primeira experiência de mobilização mundial pela tv. Parece abusivo apontar uma relação direta entre os dois episódios; afinal esses programas, chamados justamente de “programas de convivência”, operam com o território da intimidade, a “casa”, nos limites de uma domesticidade acomodada.
Mas é possível divisar, na oposição entre a guerra e o recolhimento individual, uma espécie de dinâmica entre mobilização e desmobilização, ou melhor, entre “mobilização total” – esse fenômeno definido por Ernst Jünger que revivemos com os atos do 11 de setembro – e o que Alain Ehrenberg, ao estudar as formas embrionárias dos “Reality shows” chamou de “mobilização individual”: o fato de que qualquer um possa aceder à cena e representar o seu próprio papel [5]. Do mesmo modo, é possível estabelecer uma relação entre tal “mobilização individual” e o que chamei de “disponibilidade” da imagem: uma condição diferente, senão oposta, à intensidade das imagens consagradas do 11 de setembro.
[5] Ehrenberg, A. “La vie en direct ou les shows d’autenticité” in Esprit n. l88, janeiro de l993, Paris
Ainda no início dos anos 90 a revista Esprit [6] examinou os primeiros Reality shows, então programas com reconstituições de vida (com atores ou com as pessoas que viveram as experiências narradas), distinguindo neles aspectos que os atuais RS levariam às últimas conseqüências: a erosão das fronteiras entre gêneros televisuais, o lugar de destaque atribuído ao telespectador. A revista mostrou também a tendência desses programas a abolir a tela (por meio da interatividade), as convenções cênicas e a narrativa tradicional, devido à sua inscrição no cotidiano – todas rupturas que os atuais RS também levariam a cabo. Os analistas da revista mostraram que o princípio desses programas se baseava na manifestação da experiência direta das pessoas comuns, mostrada de modo suficientemente sóbrio e econômico para “parecer real”. Sem herói, sem construção narrativa, tal despojamento seria, segundo os críticos, a base de uma televisão que ofereceria ao telespectador a possibilidade de transformar sua vida em espetáculo. Mexendo com suas vidas em profundidade. esta teria a pretensão de se colocar a serviço dos indivíduos, que passariam então a consumir uma “relação” e não o “sonho” que a tv sempre esteve habituada a oferecer.
[6] Esprit , n.188, janeiro de l993. Paris (Também o Cahiers du Cinema dedicou-se aos Reality Shows, analisando o Loft Story – o programa francês de grande sucesso – como uma proposta estética. Nos números: 558, julho de 2001; 566, fevereiro de 2002, e n. 567, março de 2002. Recentemente o caderno “Mais”da Folha de São Paulo examinou o fenômeno entre nós.
Os analistas da Esprit concordavam, então, que esta eleição do indivíduo como centro da atenção, assim como a importância conferida à sua história banal seriam o contraponto de uma perda de referências generalizada, de um esvaziamento da esfera pública e de um encolhimento da política no último final do século – condições que, evidentemente, não são particulares ao contexto francês. Tal prestígio do indivíduo, que na verdade acompanhou o avanço do projeto neoliberal nas duas últimas décadas acaba atuando, na opinião dos diferentes analistas, como uma resposta, ou como um modo de sanar suas dificuldades numa sociedade em que seu lugar se confundiu com o das instituições, em que os sentidos se esvaeceram, em que o estado se eclipsou e a sociedade civil tende a assumir seu papel. Nessas condições, a tão propalada e prestigiada “autonomia” de cada um torna-se o que Alain Ehrenberg chama de “uma imposição de massa”. Para esse crítico, particularmente, é à luz desse novo tipo de massificação, que não faz mais um amálgama de todos mas destaca apenas um, que deve ser interpretada a valorização, pelos Reality shows, do homem comum, da sua “espontaneidade”, sua “sinceridade”, sua “emoção” – enfim, da sua “autenticidade”, que faz dele o “herói da sua própria vida”. Assim, à medida em que a esfera pública se desvencilha de suas atribuições, o campo de ação da televisão se amplia e passa a propor o diálogo com o telespectador e a impor uma cultura de cunho assistencialista, terapêutico, que teria o papel de sanar a falência das mediações políticas.
No seu aspecto geral, tais análises podem ser estendidas ao Brasil, onde a televisão tem sua atuação hiper-dimensionada e onde, portanto, o encolhimento da esfera pública, reiteradamente constatado pelos mais variados estudiosos, confere um papel de maior destaque ainda tanto aos programas de ajuda, quanto àqueles que encenam a vida do telespectador.
“A vida como ela é” – esse é o lema do novo realismo televisivo segundo Ehrenberg; em vez do velho mundo da verossimilhança, que tanto confortou a imagem, prima a “autenticidade”, tomada como “qualidade de gente que só tem a seu favor o fato de não ser ninguém”. Segundo esse ponto de vista, qualquer um passa a ser interessante a ponto de poder desempenhar o seu próprio papel. É assim que o telespectador se torna, nas palavras do analista, “o derradeiro profissional da televisão”. Pois só esse “telespectador emancipado” sabe comunicar o que ele é realmente; um “profissional” da sua própria vida.
Os programas que inauguram a linhagem dos RS elegeram justamente o homem comum como herói de uma história, a sua, afirma Ehrenberg; mas ele só adquire existência se esta história for conhecida. Mostrando seus feitos cotidianos e banais, a tv ensina cada um a gerenciar sua vida e a resolver seus problemas a partir do que ele “é”: é exatamente isto que o crítico chama de “mobilização individual”: cada um torna-se “profissional” de sua vida, fazendo dessa modalidade de televisão uma “técnica de massa para viver como indivíduo”. “Consumir relação” é isto, diz o Ehrenberg: esperar da tv o “conselho personalizado em massa”. Reconstituições e encenações têm, assim, a função de fazer falar, fazer saber e fazer agir dentro dos limites prescritos por esta vida individual, estabelecendo um vai-e-vem entre palavra e ação. Para que as pessoas possam agir é preciso lhes “dar” a palavra.
Ehrenberg avança elementos muito elucidativos para entendermos a implantação dos RS entre nós. Chama atenção, inicialmente, na sua análise, a distância crítica que o autor busca guardar em relação a ações como “participar”, “dar a palavra”, passar “da passividade à atividade” (a palavra “dada” é muito diferente do gesto afirmativo de quem a toma). Mas também seu recurso insistente a características como a “autenticidade”, ou a noções como “vida real”, “sentimentos verdadeiros”, assim como a exigência de “sobriedade” para mostrá-los parece sugerir que não estamos longe do velho e conhecido ideário da imagem. Sabemos que a “verdade” da imagem é a contrapartida da afirmação do indivíduo. Mas sabemos igualmente que, numa sociedade dominada pelas mídias, onde é o gesto de colocar o indivíduo em cena que lhe atribui sentido, que o faz existir, que a própria noção de indivíduo já se encontra em crise. Donde nossa sugestão de que talvez a função desta imagem seja, justamente, manter o indivíduo, de algum modo, em circulação. É o que passaremos a examinar em relação aos atuais Reality shows.
A fórmula desses programas deslocou-se da vida de um indivíduo para a vida de alguns participantes e levou ainda mais longe a ideia da “vida como ela é”[7]. Ela parte da reunião num mesmo espaço de pessoas ditas “normais” que, por sua vez, não devem “representar papéis” nem “encenar emoções”: tudo deve ser “real”. Para tanto os participantes são retiradas de seu ambiente, trancados numa casa e vigiados pelas câmeras que transmitem sua imagem em tempo integral. O total isolamento e exibição permanente da imagem visam – é o que dizem os entusiastas da nova fórmula – trazer à tona “sentimentos verdadeiros” – donde a importância e a insistência da “conversa”.[8] Há um prêmio em dinheiro no final, e a interatividade consiste na eliminação, pelos telespectadores, dos participantes indesejáveis. Ganha, evidentemente, quem ficar.
[7] As expressões são tiradas da descrição habitualmente feita desses programas.
[8] Em geral são as imagens desse tipo de programa que têm sido mais visadas pelos analistas. Assim, a revista Cahiers du cinéma n. 558, julho de 2001, dedicou um número aos Reality shows, quando seus críticos analisaram a “proposta estética” do programa francês de grande sucesso, “Loft story” . No ano seguinte uma polêmica foi desencadeada quando a revista colocou o mesmo programa na sua lista dos 10 melhores do ano. A discussão focalizou, mais uma vez, a imagem, cuja “ nulidade” foi denunciada pelos leitores, enquanto os críticos tomaram seu “ presente contínuo” como o “horizonte absoluto da tv”. Entusiastas do novo programa da tv francesa, os Cahiers defenderam seu aspecto “inovador”, destacando seu caráter aleatório, “que questionaria o cinema no seu próprio terreno” e aboliria o discurso, colocando em causa “a razão do autor” . Cahiers du cinema n. 566 e 567, fevereiro e março de 2002.
Esse modelo de encenação que oferece os participantes do programa – escolhidos entre os telespectadores – como espetáculo ao vivo e em tempo integral parece, de fato, levar às últimas consequências aquele papel do telespectador definido por Alain Ehrenberg como o “profissional de sua vida”, como “derradeiro profissional” da TV. Mas ainda podemos avançar um pouco mais do que o autor nesta análise. Pois quando o telespectador se torna tal espécie de “profissional” que encena sua vida, fazendo-se ao mesmo tempo “personagem de si mesmo”, quando passa literalmente para o outro lado da tela (e sabemos que o projeto dos participantes do programa é ficar na TV, como verdadeiros profissionais), não é só o próprio indivíduo que deixa de existir; também o personagem, no sentido tradicional do termo, se torna, por sua vez, obsoleto.
É bom lembrar, a esta altura, que os RS brasileiros têm uma particularidade em relação aos seus congêneres: eles vieram otimizar o rendimento de um capital eminentemente brasileiro – a emoção despertada pelas telenovelas. Além do prestígio desse gênero entre nós, depois de 30 anos de convívio com as telenovelas o telespectador já aprendeu a “ler” todas as suas personagens, a vasculhar suas intimidades, e até a palpitar na sua trajetória. Nesse sentido, os atuais RS não precisam mais “propor” personagens muito definidos, nem tampouco acompanhar suas trajetórias: os telespectadores brasileiros já podem dispensar tais exigências . Na verdade não se trata mais, nesses programas, de personagens definidos por um caráter, dotados de uma interioridade, de um objetivo, mas apenas de “indicações”: traços, sinais, sugestões que ator e público podem “desenvolver” (o termo é dos participantes), enfim, de uma certa “tipologia” que, como num processo de auto-alimentação, se move num universo de significação já hiper-sinalizado pela própria mídia.
Nem “indivíduos” nem tampouco “personagens” – daí o valor exemplar de “Casa dos Artistas”: seus participantes eram “artistas” (com a conotação que o termo tem entre nós, de gente da televisão), artistas “fajutos” ainda por cima, eram gente da periferia da tv. Menos que personagens, mais que gente comum, talvez esses mediadores tenham, de certa forma, contribuído para facilitar a passagem do telespectador das telenovelas para a nova forma televisiva, e lhes tenham ajudado a lidar mais facilmente, como num jogo, com tais traços e sinais.
Mas se não há mais personagens nem tampouco indivíduos, o que acontece nos RS? Parece-me que o que se faz, nos RS são simulações, verdadeiras “simulações de indivíduo”. Simulação no sentido militar do termo: exercício ou treinamento que envolve tanto atores quanto telespectadores nesta que talvez seja a primeira (mas, para alguns, já a última) modalidade televisiva após a convergência entre televisão e Internet.
Por isto eles ficam 24 horas no ar. E talvez nem seja mais o caso de dizer que eles “ficam no ar”; eles estão apenas “disponíveis” – como dados e informações que podem ser “acessados” na rede. Não se trata mais, portanto, de “intensidade” da imagem, como no 11 de setembro, mas da sua “disponibilidade” e de seu estado de total “indiferenciação”: todas as imagens se equivalem, e são colocadas em disponibilidade permanente para quem quiser acessar, conectar e desconectar qualquer uma, a qualquer momento. Afinal não foi por meio do computador que se desenvolveu a técnica militar da simulação? E não foi ele que a colocou, por meio dos jogos, ao alcance de todos?
Simular indivíduos enquanto a sensação de vazio cresce, os sentidos fogem. Treinamento? Guerra? Jogo? Por certo esses três objetivos não se excluem, mas nem por isto têm o poder de alterar o estatuto mais modesto, ou menos espetacular, face aos atos do 11 de setembro, dessa outra modalidade de simulação; estatuto do qual, de resto, e ainda mais uma vez, uma descrição de Don DeLillo em Ruído Branco dá conta:
“Estamos aqui para simular (…) E lembrem que não estamos aqui para gritar nem correr pela rua. Somos vítimas discretas. Não estamos em Nova York nem em Los Angeles. Aqui basta gemer baixinho” [9].
[9] DeLillo,D. Rumor Branco , Companhia das Letras, São Paulo, l987. p. 202.