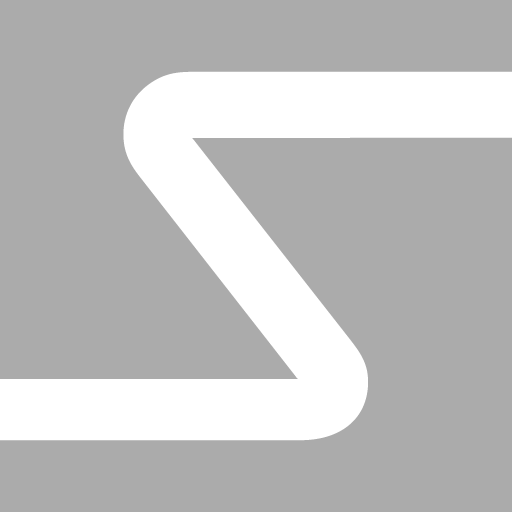51.072 345 de brasileiros são a favor da tortura. 51.072 345 de brasileiros admitem o armamento da população. 51.072.345 de brasileiros aceitam a atuação das milícias. 51.072.345 de brasileiros concordam com a justiça feita pelas próprias mãos. 51.072.345 de brasileiros…
Mídia, política e intimidade: permutas entre a esfera pública e a imagem na era Collor

Quando se pensa nas transformações políticas, sociais e culturais que o Brasil experimentou nos últimos anos do século XX, é geralmente unânime o reconhecimento da responsabilidade que cabe aos meios de comunicação – e sobretudo à televisão – pela nova face que o país passa a apresentar e até mesmo pelo modo como ele se vê ou se reconhece, num mundo cada vez mais submetido ao domínio das imagens.
Como veículo de comunicação mais antigo, a imprensa passou, nesse período, por uma verdadeira mutação que compreendeu a reestruturação das empresas proprietárias, a racionalização da produção da notícia com a incorporação da informática e a adaptação do profissional a novos métodos e concepções. Mas, no entanto, guardou a sua inserção local ou regional, sem deixar seu gueto de leitores mais instruídos e abastados. As rádios se multiplicaram, assim como se segmentou ainda mais seu público registrando-se, por outro lado, um processo de mudança de mãos de sua propriedade, que colocou sob o domínio das igrejas, em São Paulo, por exemplo, um terço de seu total. Quando se trata de influência no plano nacional, entretanto, a televisão é, sem dúvida, o veículo que alcança maior abrangência, atuando não apenas horizontalmente sobre a totalidade do país, mas verticalmente, de cima a baixo da escala social.
Mais do que uma análise das transformações que atingiram o sistema midiático nos últimos vinte anos, pretende-se aqui destacar dois dos momentos mais incisivos da sua atuação: a campanha eleitoral de 1989, quando se confrontam dois modos de fazer política justamente a partir do uso dos meios de comunicação: um que privilegia a imagem, o outro que valoriza o espaço público; e o impeachment de Collor, que registra, por sua vez, uma espécie de “revanche” das ruas contra a imagem televisiva dominante. Trata-se de dois momentos privilegiados para o exame da intrincada relação entre os meios de comunicação e a sociedade, em que a história do país se torna praticamente indissociável da atuação dos mídia.
Vistos a partir dos dias de hoje, esses acontecimentos podem parecer distantes e até mesmo superados. Dez anos passados e ao cabo da implantação do projeto neo-liberal iniciada pelo próprio Presidente Fernando Collor, muita coisa parece ter mudado no país. No entanto, às vésperas do próximo milênio e a três anos das próximas eleições presidenciais, é hora de trazê-los de volta, de rememorá-los, não para evitar a repetição da história como farsa, mas para lembrar como a farsa pode (se) fazer história.
Tornou-se praticamente um lugar comum, hoje em dia, o reconhecimento de que as imagens vêm tomando o lugar da realidade. De par com essa desapropriação do mundo dito “real”, o tratamento concedido pelos mídia aos acontecimentos políticos tem feito convergir para a tela a expressão política, que até então tivera no espaço público o lugar da sua manifestação. Como se, no vácuo criado pela decadência da esfera pública, a televisão tivesse se tornado a única alternativa à expressão política desalojada de seu lócus – a cidade – para ter lugar no tempo, o tempo da transmissão[1]. Numa era em que a difusão da televisão já atingiu uma escala mundial e em que a imprensa escrita, por sua vez, assimilou muitos dos padrões televisivos no tratamento de seus materiais, não se trata aqui de aprofundar essa dupla oposição – entre imagem e realidade, entre espaço e tempo – mas de procurar entender a irrupção, em ambos os pares, de uma nova dinâmica, a partir do momento em que o poder da imagem – para o mal ou para o bem – tornou-se incontornável e passou a ter de ser levado em conta na própria cena política.
[1] É Paul Virilio quem tem estudado essa transferência da política do espaço para o tempo na era das modernas tecnologias da comunicação. Ele propõe, em contraponto a essa tendência, uma “urbanização” ou uma politização do tempo.
Nesses últimos vinte anos, a frequência aos meios de comunicação e o uso da praça pública – ou seja, o uso do tempo de transmissão ou o uso do espaço – têm se alternado numa curiosa permuta, cujas consequências ainda estão para serem esmiuçadas. Desde as suas origens, houve uma espécie de tensão entre a televisão como novo veículo de transmissão instantânea e o espaço territorial. Implantada regionalmente no país na década de 50, a rede nacional de TV só se tornou operante a partir do final dos anos 60, como instrumento fundamental na implementação da política de integração nacional proposta pelos militares em 1964. Invocando a vasta extensão territorial do país, o móvel dessa política era justamente a necessidade de absorver as diferenças gestadas por tal dimensão continental, unificando o país sob o controle do poder central. Tratava-se de operar a nova tecnologia de comunicação instantânea no sentido de oferecer ao país uma imagem única de si mesmo, uma espécie de “identidade eletrônica”, mais “operacional” ou “performática” do ponto de vista do controle político.
Na verdade, a impregnação do país pelas imagens da televisão está intimamente associada a uma traumática experiência de retirada do espaço. A rede nacional foi lançada ao mesmo tempo que imensas massas de população mudavam-se do campo para as cidades, num êxodo que, ao longo dos anos 60, tornou a população urbana superior em número à população rural. A televisão viria a desempenhar um papel fundamental na acolhida dessa população expulsa de seu espaço próprio, atuando não apenas como mediadora de sua introdução na esfera urbana mas, sobretudo, como o instrumento mais atuante na sua integração – mesmo que imaginária – ao mercado. Esse “encontro infeliz” tem sido, de resto, insistentemente invocado para justificar o grande sucesso do veículo entre nós ou, pelo menos, para explicar – já que o argumento não dá conta da penetração vertical da TV junto às classes sociais – o seu enorme desenvolvimento junto a essa população sempre iletrada.
Essa alternância, ao termo do regime militar, entre imagem e espaço público torna-se mais dinâmica quando a contestação conquistou as ruas para ser em seguida substituída pelas imagens da TV. A campanha das diretas foi um marco importante para a reconquista e o fortalecimento do espaço público, para a revitalização da manifestação direta da vontade popular. Ao prestar-se à exploração da afetividade popular, a longa agonia do presidente recém-escolhido Tancredo Neves fez reverter rapidamente para a tela, aquela comoção que se expressara publicamente, polarizando-a de volta em torno da imagem.[2] Imantada pela própria força dramática desse acontecimento que ela chamou para si, a televisão se apropriou ainda mais do papel destinado ao espaço público, criando-se uma tensão que chegaria ao seu ponto máximo durante a campanha para as eleições presidenciais de 89 e o impeachment de Collor.
[2] A prova dessa contaminação entre imagem e política foi a eleição, após a morte de Tancredo, de su ex-assessor de imprensa, o jornalista Antônio Brito, escolhido depois como governador de seu estado, o Rio Grande do Sul – como se parte do poder político com o qual Tancredo Neves fora investido tivesse sido “transferido”, com a sua morte, justamente para esse homem da mídia.
Na verdade esse deslocamento da esfera pública para as dimensões reduzidas da imagem da TV não constitui uma manifestação isolada nessa nova espécie de cartografia inaugurada pela televisão. Ele se faz acompanhar de uma outra manifestação, aparentemente oposta e também recorrente que se dá, agora, no interior da própria programação televisiva: a exposição pública da intimidade na tela, ou o predomínio do que Jurandir Costa chamou de “ordem cultural da confissão”[3]. Quer se trate de talk shows (gênero consagrado entre nós nos últimos vinte anos) com entrevistas supostamente “reveladoras” de celebridades; quer se trate da programação dita “jornalística”, na qual gente comum é convidada a se expor – seja para tornar extraordinária a sua vida corriqueira, seja para mostrar o extraordinário ou a aberração (o anormal) que a distingue – a cartografia televisiva mais recente tem buscado expor ao público a subjetividade de cada um, fazendo dessa espécie de “autenticidade” obtida através da confissão, a expressão mais alta do “valor individual” – como se essa sorte de “verdade sentimental” obtida numa atmosfera de untuosa cumplicidade se prestasse a estender, até o plano dito privado, a transparência que deveria ser, pelo menos em princípio, atribuição da esfera pública.[4] Essa disponibilidade para a confidência, ou a adesão fácil ao que Freire chama de “roteiro social da felicidade” encontra seu prolongamento, evidentemente, no campo da ficção televisiva, na exasperação sentimental das telenovelas, nessa espécie de mexerico infindável em que a “busca da expressão mais fiel de si mesmo” completa o programa da sociedade totalmente transparente a si mesma.[5]
[3] Costa, J.F. “Roteiro social da felicidade” in Caderno Mais1, Folha de São Paulo, 13-6-99. O autor desenvolve esta análise a partir do filme A felicidade de Todd Solondz, mas a maioria de suas observações pode ser estendida a boa parte da programação de televisão no Brasil.
[4] Essa exposição da intimidade, no seu contraponto com a espetacularização da política, parece encontrar seu paralelo num fenômeno detectado por Daniel Dayan e Elihu Katz na era da fragmentação eletrônica: a oposição entre a possibilidade futura de consumo de um canal diferente por cada espectador isolado, por um lado, e a exposição mundial, para todos os espectadores num só momento, de um único canal, por outro. Katz, E. e Dayan, D. “Political Ceremony and Instant History” in Smith, A. Org. Television – An International History. Oxford University Press. Oxford/N.Iorque, 1995.
[5] “Mexerico enlatado” é, aliás, a denominação que o dramaturgo alemão Heiner Müller atribuiu à televisão; para ele, a grande mídia, como outras instituições, não têm paciência para o conteúdo da experiência”. “Náusea cotidiana”, “verborragia fabricada”, esses termos pesados que usa no monólogo Hamlet machine visam atribuir à televisão a responsabilidade pelo “assassinato do cotidiano”. Müller,H. Hamlet machine ET autres textes. Traduzido do alemão por Jean Jourdheuil e Heiz Schwartzinger. Ed. De Minuit, Paris, 1979.
Esse estímulo à auto-exibição e ao voyeurismo não é incompatível com a espetacularização dos acontecimentos políticos pela televisão por meio da desapropriação de seu contexto político, do esvaziamento dos seus sentidos mais complexos e dos seus nexos mais sutis. Ao contrário, ele é o seu contraponto, a face por assim dizer “privada” de um mesmo fenômeno – como se à ampliação de foco propiciada por uma abordagem que descontextualiza os fatos políticos correspondesse, num outro plano, o aprofundamento de um mergulho “nas almas” daqueles que se oferecem à contemplação na TV.
Na verdade, existe uma sintonia fina entre essa espécie de des-historização dos grandes acontecimentos apresentados na televisão nos últimos anos e a desapropriação da história individual daqueles que têm suas vidas “roteirizadas” diante do público (sejam eles indivíduos “reais” ou “ficcionais”), uma sintonia que só vem confirmar o benefício que a televisão extrai desse processo – se é que ela não constitui um de seus principais artífices. Tanto ao desalojar os acontecimentos da sua matriz, quanto ao despojar os indivíduos de sua experiência, o que se opera é uma rarefação da densidade histórica por meio da imersão de todos num fluxo indiferenciado de imagens que, por se equivalerem umas às outras, acabam destituídas de qualquer valor.
Em vez de rememorar os dados costumeiros que buscam explicar o poder de penetração da televisão, talvez seja mais significativo considerar , por meio da invocação de um episódio recente, a sua capacidade extraordinária de unificar as distâncias, de sanar as diferenças mais evidentes e de fundir realidade e ficção. Episódio que não apenas ilustra o que Paul Virilio entende por “obliteração do espaço físico” pela televisão em benefício de uma “intensa experiência do tempo” – deixando à mostra a criação de uma dinâmica entre o novo tempo instantâneo e o espaço público como lugar de manifestação da vontade política – mas que atesta também tanto a grande capacidade de penetração da imagem (sobretudo da imagem ficcional) no cotidiano das populações quanto a promiscuidade que pode se estabelecer entre mundo ficcional e realidade política.
Em abril de 1991, o prefeito de Jandaíra, pequeno município no sul da Bahia, convocou um plebiscito para votar a adoção, pela cidade, do novo nome de Sant´Anna do Agreste, designação de uma cidade imaginada, nesse mesmo local, pelo escritor Jorge Amado, onde a história de sua personagem Tieta do Agreste se desenvolvia. O livro tinha sido transformado pela TV Globo em novela de grande sucesso no ano anterior, e o prefeito pensava se valer de tal repercussão para atrair turistas para a região.
Essa realização de um ato político – um plebiscito – como ressonância do mundo ficcional da televisão, o abandono do nome da cidade em troca da adoção da nova denominação podem, de fato, ser tomados como resultado do processo de permuta do espaço pelo tempo que Paul Virilio costuma invocar. A troca dos nomes por meio da expressão da vontade pública implica, com efeito, uma negação pelos habitantes da cidade, em nome da imagem televisiva, do próprio espaço físico da cidade, de cada um de seus lugares e da memória que eles acumularam, Mas ela leva também de roldão, com as experiências individuais, as práticas sócias e políticas inscritas nesse espaço, acarretando do mesmo modo a denegação da cidade enquanto espaço público.
O episódio ilustra com perfeição a contaminação do espaço pela intensidade de um tempo, pelo tempo instantâneo e ficcional da TV: confinada no tempo, no tempo da transmissão, a cidade é esvaziada de seus conteúdos, sendo substituída pelos contornos cada vez mais acentuados da cidade imaginária. Esse episódio explicita, além disso, o modo como a televisão vem atuando no processo de encolhimento da esfera pública, não apenas ao substituí-la, mas também ao expandir seu “território” ficcional numa contaminação espaço-temporal sem precedentes.
A campanha presidencial de 89 e o impeachement de Collor são dois episódios exemplares desse tipo de dinâmica em que a tensão entre imagem e espaço público – ou entre tempo e espaço – se apresenta provavelmente no seu grau mais elevado e em que a promiscuidade entre ficção e realidade pode ser apontada com maior nitidez. Nesse momento se tornam explícitos dois modos de fazer política: de um lado predomina o reconhecimento do espaço público como lugar privilegiado da manifestação política e, de outro, a “imagem pública” como o seu substituto na era da sociedade de comunicação.
As relações entre televisão e política durante a campanha de 1989 têm sido lidas sob a ótica da manipulação. Uma corrente analítica vê a intervenção radical da TV Globo no processo eleitoral, intervenção que vai desde a divulgação acintosa da candidatura Collor no primeiro turno em detrimento de seus dois opositores: Leonel Brizolla e Lula, até a manipulação das imagens do debate entre Collor e Lula, antes do segundo turno – sem deixar de lado até mesmo a influência do público por meio dos enredos das telenovelas que antecederam o pleito. Uma segunda corrente nega o poder de influência da televisão nas decisões políticas face a outros tipos de mediação, como a opinião da família ou da comunidade – recusando o “caráter maquiavélico” atribuído à TV Globo pelos seus críticos.
Não se trata de nos determos aqui nesse debate que, de resto, não é novo e remete á corriqueira consideração de um tipo de tráfico entre poder público, sistema midiático e poder econômico como esferas de atuação cada vez menos nítidas nas sociedades capitalistas modernas. Mas à medida que a sociedade de mercado vem se impondo, com força cada vez maior, nas duas últimas décadas e que soma suas forças a um aparelho midiático de dimensões globais, a rememoração do episódio pode se prestar ao entendimento da desvalorização da política enquanto dimensão das relações sociais, desvalorização que vai de par com o amálgama entre a figura do cidadão e a do telespectador.
É no contexto do consenso morno instalado entre nós nos últimos anos, consenso que tanto tem degradado o exercício político, que a eleição de 89, tanto quanto o impeachment de Collor – esse outro momento menos estudado do ponto de vista da atuação da mídia – são exemplares para se examinarem as relações entre política e televisão. Antes de tudo, por ter sido a eleição de 89 a primeira após o regime militar. Em seguida – e isto também se refere ao impeachment – por terem ambos se dado no momento em que as forças do mercado começavam a se nomear entre nós como tais, com a inauguração da “nossa” era neoliberal. Finalmente, por constituírem, tanto a eleição quanto o impeachment, os primeiros grandes confrontos políticos a se manifestarem, como lembra Venício A. de Lima, num país integrado pela indústria cultural, onde a tela (especialmente a tela da Rede Globo) passa a ocupar o lugar de maior destaque.[6] São essas condições que configuram, tanto as eleições de 89 quanto o impeachment do presidente, como momentos de tensão máxima entre a vitalidade da esfera pública e a força contundente da imagem, e em que as fronteiras entre ficção e realidade política se tornam mais permeáveis, dando lugar a um intercâmbio inusitado entre esses dois universos.
[6] O autor se refere apenas à eleição de 89, mas dada a proximidade no tempo e a ligação entre os dois episódios, sua observação pode ser estendida também ao impeachment. Lima, V.A. “Brazilian Television in the 1989 Presidential Election: Constructing a President” in Skidmore, T.E. (org.) Television, Politics and the Transition to Democracy in Latin America. The Woodrow Wilson Center Press e The Johm Hopkins University Press, 1993. Washington, Baltimore e Londres.
As eleições de 1989
Collor foi chamado de candidato da televisão por causa de sua familiaridade com o meio, do sólido suporte midiático de que sua candidatura se beneficiou, mas também em função dos métodos de marketing que adotou para promover sua candidatura – em suma, em virtude da sua escolha da imagem como o lugar de afirmação do exercício político. As afinidades entre Collor e o aparelho midiático se apresentam tanto de modo explícito – o conglomerado de comunicações Organização Arnon de Mello em Alagoas pertence à sua família – quanto de maneira mais matizada, que pode ser atestada tanto por meio da “simpatia” com que foi recebida sua candidatura por parte da mídia em geral, quanto através do apoio praticamente explícito que recebeu da Rede Globo; ou, ainda por meio da própria formulação da sua campanha, baseada na construção da imagem segundo os métodos midiáticos mais explícitos; ou até mesmo, de acordo com alguns analistas, por meio do benefício que obteve da influência das telenovelas.[7]
[7] Dentre as mais variadas configurações dessa relação contam-se: uma capa da revista Veja que, já em 1987, lançava para o Brasil o então desconhecido “caçador de marajás”; a “homenagem” que esse mesmo personagem recebe ao ser transformado em enredo de uma escola de samba no carnaval carioca de 1988; suas aparições no programa “Fantástico” e no “Globo repórter” no mesmo ano e, finalmente, o editorial “A convocação”, assinado por Roberto Marinho no jornal Globode 2-4-89, em que o candidato “ideal” a presidente tem o mesmo perfil de Collor: “conservador” politicamente, “moderno” em política econômica, a favor das privatizações e da abertura da economia para o capital estrangeiro.
Foi muito “naturalmente” que a televisão e os mídia em geral corroboraram a campanha de Collor desde o seu início; mas nem sempre esse apoio assumiu a configuração usual, por meio da qual o aparato de comunicação é levado a agir como expressão das forças políticas dominantes. Tal apoio se expressou, igualmente, pela extrema facilidade com que sua “mensagem”, concebida segundo os critérios prestigiados pela própria mídia, pôde “fluir” muito naturalmente pelos diferentes veículos. A permeabilidade entre a abordagem que o candidato fazia do eleitor e aquela que a mídia utiliza em relação ao seu público instaurou uma afinidade extremamente sutil entre o candidato e todo o sistema midiático – e aqui não se trata apenas da Rede Globo – afinidade provavelmente até mais eficaz do que a manipulação propriamente dita, mas muito mais difícil de ser explicitada.
A exploração do potencial político dos meios de comunicação não é uma novidade entre nós – de Vargas a Jânio, os populistas já recorriam a eles com finalidades eleitorais. Mas, se para esses velhos políticos, a televisão e outros meios de comunicação ainda eram tomados como um instrumento estranho a sua atividade, ao qual tinham de se “adaptar” com vistas aos seus objetivos, Collor foi não apenas o primeiro candidato oriundo do próprio meio midiático, mas o primeiro “a usar uma estratégia coerente de marketing” para conceber sua campanha, um planejamento detalhado a ponto de abranger seus gestos (O “V” da vitória), seu discurso (o refrão “minha gente”), as suas cores (as da bandeira nacional) e até a música de seus comícios.
Em consonância com essa estratégia, a campanha de Collor não foi baseada num programa de governo, mas em certos “temas” estabelecidos de acordo com pesquisas de opinião e estudos de marketing. Daí foi extraído o pilar central de seu discurso, o combate à corrupção – o fenômeno que mais mobilizava a mente dos brasileiros ao final do governo Sarney – do qual deveria emergir a sua imagem mais consagrada, a do “caçador de marajás”. Esse velhíssimo estereótipo da riqueza acumulada, associado a alguns funcionários públicos de Alagoas que recebiam altos salários assumiu, pelas mãos de Collor, foros de uma verdadeira cruzada moral e, por meio de uma vaga conotação política assegurada pelo contraste ricos/pobres, (Alagoas é um dos estados mais pobres da federação) logrou aceder à condição de “programa político”, confundindo administração pública com gestão econômica e política do país.
Para os eleitores era muito fácil assimilar tal imagem. O tema da corrupção já permanecera em pauta por muito tempo –e, evidentemente, poucos deles podiam se “reconhecer” como marajás. Funcionando por exclusão, esta era uma daquelas imagens com as quais o eleitor, por não se identificar, era levado como que “naturalmente” a apoiar.
Os descamisados, uma figura clássica do populismo sul-americano, deveriam atuar como contraponto da imagem do marajá, preenchendo o outro pólo da oposição rico/pobre à qual se viam reduzidos, segundo a visão do candidato, os confrontos sócias. A equação era simples: para lutar contra os marajás, Collor tinha de contar com a solidariedade dos “descamisados”, uma categoria social tão imprecisamente definida a ponto de abranger (e não de excluir, como fazia a figura do marajá), o maior número possível de eleitores. (No segundo turno, essa imagem socialmente vaga do descamisado viria a se tornar extremamente útil no seu contraste com o “trabalhador”, uma entidade que o PT procurava inscrever num cenário de linhas políticas muito mais definidas).
É claro que tudo isso é muito óbvio, mas imagens de propaganda lidam justamente com o óbvio, e o fazem de modo muito peculiar. Para “funcionarem”, elas devem se ater ao lugar comum. Por isso, também, envelhecem cedo e, uma vez obsoletas, têm de ser rapidamente substituídas por outras – já que nada existe “realmente” por trás delas. O resultado das eleições provou a eficiência dessas imagens banais mais, mas demandou, somo se sabe, a rápida fabricação de outras, numa proliferação literalmente desenfreada.
Evidentemente Collor não inovou ao se conceber como uma imagem, mas foi seguramente o político brasileiro a por a proveito, com mais eficácia, a construção de uma figura que propiciasse leitura imediata por parte de um público já adestrado pelas imagens consensuais da publicidade e da televisão. Na verdade, não se tratou propriamente de uma construção, mas de uma destruição, com a eliminação – como ensina a televisão – da história pessoal do candidato, o apagamento dos traços que compunham sua figura (e sobretudo daqueles traços que lhe conferiam alguma “densidade” como político), de forma a oferecer um rosto vazio, praticamente sem feições e capaz, portanto, de colher os novos traços que o marketing lhe atribuísse.
Oriundo, como se sabe, de uma família de políticos, ele mesmo ex-prefeito de Alagoas, ex-deputado pelo seu estado e governador no momento de sua candidatura, esses atributos foram “apagados” de sua vida, liberando-a de qualquer conexão com a política no seu sentido tradicional. Uma vez purificado dessa contaminação “indesejável”, Collor pôde se apresentar como um outsider , um “isolado cavaleiro andante” na expressão de Francisco de Oliveira [8] – uma espécie de líder auto-engendrado ao qual viriam se associar temas de significado positivo – como “moderno”, “novo”, – mas suficientemente amplo para não lhe conferirem origem nem uma perspectiva histórica muito precisa. Os dois termos adquiriram, aliás, significação mais precisa no segundo turno por oposição a Lula (o representante de um mundo “ultrapassado” e “em ruínas” com a queda, então recente, do muro de Berlim), um contraste que viria ainda realçar certos subtemas menos explorados no primeiro turno, como o “patriotismo”, a “religiosidade”, o “valor nacional”.
[8] Oliveira, F. Fernando Collor, a Falsificação da Ira. Imago, Rio de Janeiro, 1992.

Apesar de sua opção pelas aparições na televisão e pela imagem, Collor realizou uma série de comícios-relâmpago em algumas cidades, a “Campanha da Esperança”. Organizados como “vídeo-clips”, eles se limitavam, assim, ao modelo consagrado no mundo do espetáculo. Conforme descrição de Olga Maria Tavares da Silva Coutinho[9], no palanque instalado para comícios, um púlpito destacava a figura de Collor e quando ele se aproximava do lugar, o carro de som tocava “Fé Brasileira”, música na época muito difundida do conjunto Chiclete com Banana, ou então o hino da campanha. Os gestos, sempre repetidos, se reduziam a levantar dos punhos, ao V da vitória ou aos dois punhos cruzados sobre o peito, com a cabeça levemente abaixada e um sorriso. Se o comício se dava à noite, a música mudava para “Assim Falava Zaratustra”, de Strauss, acompanhada de fogos de artifício, enquanto um canhão de luz focalizava o candidato.
[9] Coutinho,O.M.S. in Fernando Collor: o discurso messiânico – o clamor do sagrado. Dissertação de Mestrado apresentada na PUC-SP, 1995.
Também os programas de televisão no horário gratuito revelavam excelente domínio das técnicas (literalmente falando) de construção da imagem, utilizando, por exemplo, os recursos então recentes de computação gráfica e, reunindo referências à ficção científica (que deveria conotar o caráter “moderno” do país “de futuro” que o candidato anunciava) a imagens de diversas regiões do país e depoimentos. Quando Collor se apresentava sozinho, um computador ao fundo da cena testemunhava novamente o aspecto “moderno” e “dinâmico” do candidato, familiarizado com as tecnologias de ponta e com a sua velocidade.[10]
[10] Cf. Coutinho,O.M.T.S. Op. Cit.

Vale Tudo

O salvador da pátria

Que rei sou eu
Alguns dos analistas têm evocado a contribuição do universo ficcional da televisão para a campanha de Collor e costumam ver, também nas novelas apresentadas pela TV Globo de 1987 a 1989, roteiros passíveis de orientar a escolha do eleitor. Segundo Venício A. de Lima, três novelas (“Vale tudo”, “O salvador da pátria” e “Que rei sou eu?”) retratavam, direta ou indiretamente, o Brasil como um reino de corrupção política, dirigido por políticos profissionais, apresentando essa atividade como um espaço social contaminado.[11] De acordo com esses três roteiros, a solução para o país não viria de um desses políticos tradicionais já comprometidos pelo seu passado e suas práticas, mas de alguém “de fora”.
[11] Lima,V.A. op. Cit.

Obviamente essas narrativas são, por si mesmas, bastante eloquentes e dispensam um exame de seu conteúdo e significação. Mas vale a pena lembrar os argumentos daqueles que recusam o papel influente da televisão e não admitem “tamanho nível de sofisticação” na concepção das telenovelas. Carlos Eduardo Lins da Silva, por exemplo, prefere ver a coincidência entre os temas do candidato e os das telenovelas apenas como resultado de uma “convergência” entre “a extraordinária sensibilidade política de Collor para perceber os sentimentos do eleitorado” – no caso, a revolta contra a corrupção – e essa “mesma percepção” por parte dos autores das telenovelas.[12]
[12] Lins da Silva, C.E. “The Brazilian Case: Manipulation by the Media?” in Skidmore,T.E. Op, Cit.
Se descartarmos o fato de o autor tomar por extraordinária “sensibilidade política” de Collor o que, na verdade, não passava da mera incorporação das conclusões de pesquisas de opinião encomendadas pelo próprio candidato com vistas a formatar sua campanha, sua argumentação passa a se tornar interessante quando equipara tal “sensibilidade” ao “faro” dos autores de telenovela. Pois se Silva atribui uma intuição particular a esses autores, capazes de “farejar”, ainda no seu nascedouro, temas promissores passíveis de serem explorados pela ficção, ele reconhece, ao mesmo tempo, em Collor, o mesmo “talento” de um autor de telenovelas – capaz de pressentir os mínimos movimentos da audiência para, de olho nas pesquisas, reescrever permanentemente o seu “ roteiro”. Um tema ao qual voltaremos mais adiante.
***

O PT tinha outro ponto de vista em relação ao uso político do espaço e do tempo. O partido tinha acesso muito restrito aos meios de comunicação. Mas, além dessa contingência, a forma geral da campanha de Lula refletia um entendimento muito específico da prática política, baseado não apenas no apoio de sindicatos e associações, mas, sobretudo, na maneira que tornaria operacional a clássica oposição entre espaço público e espaço privado. Essa concepção se tornaria evidente desde a abertura da campanha, uma longa viagem de Lula partindo de Garanhuns, sua cidade natal em Pernambuco, até a periferia de Santos, seguindo o mesmo caminho que ele fez, como retirante, do nordeste para o sul do país.
Sem dúvida essa longa viagem representa uma afirmação do território, da extensão territorial e um reconhecimento dos diferentes valores nela inscritos. Ao abarcar regiões muito distintas entre si, essa viagem representa, em primeiro lugar, o reconhecimento e a valorização dessas diferenças, engendradas no e pelo espaço, diversidade que deveria ser levada em conta na futura gestão do país. Ao contrário da uniformidade eletrônica na qual o outro candidato apostava e buscava incentivar tratava-se, na campanha de Lula, de realçar e de valorizar os contrastes que deveriam constituir a própria idéia de nação. Além disso, essa “jornada” conferia também uma significação política ao espaço; por meio do longo percurso, a extensão territorial, tomada na sua própria concretude como distância a ser vencida, era ao mesmo tempo considerada como figuração do caminho político que Lula teve de fazer para se tornar um líder sindical no sul do país.
O retirante é comumente visto como vítima do sistema econômico e político, enquanto o líder sindical é justamente aquele que toma em suas mãos o seu destino político. Enquanto a jornada ressaltava a passagem de um papel passivo para um papel ativo, uma segunda metáfora topográfica vinha se sobrepor à primeira, por meio da qual o espaço era novamente investido pela política: palmilhada pelo candidato, a extensão territorial se transformava na metáfora do longo caminho que a nação também teria de percorrer, para deixar as condições de miséria e privação (figuradas pelo nordeste) para o desenvolvimento (figurado pelo sul).
A campanha de Lula tirou partido da reconquista do espaço público que teve início a partir da abertura política, não apenas multiplicando manifestações em diferentes lugares ao longo de sua viagem, “politizando” um espaço que durante as décadas anteriores permanecera inerte e silencioso, mas também valorizando a experiência do cidadão – essa figura que incorpora, ao mesmo tempo, o habitante da cidade e aquele cuja participação e julgamento sustenta a experiência do espaço público – em oposição ao “telespectador” amorfo ao qual se dirigia o seu opositor.[13]
[13] Mesmo quando o PT passou a usar atores e nomes conhecidos da televisão no seu programa de TV no segundo turno, a presença dessas figuras foi interpretada não como uma adesão da televisão à candidatura de Lula, mas como uma postura política individual desses artistas, que até “ousavam” desafiar as opiniões de seus patrões. Mas quando os artistas cantaram a canção-tema da campanha para um dos últimos programas eleitorais, a imagem foi gravada justamente na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, tido justamente como o lugar “público” por excelência da cidade.


Se a eleição de 1989 mostrou que a dinâmica entre tempo e espaço estivera em ação, o resultado das urnas parece ter sinalizado a vitória da televisão sobre o espaço público. Ainda mais se nos lembrarmos que, mais tarde, o presidente eleito viria a ser afastado de seu cargo com a ajuda das manifestações públicas, que assinalariam uma “reconquista” do espaço contra a vontade da televisão. Na verdade, os eventos subsequentes: a afluência de revelações sobre corrupção do governo Collor na imprensa, as demonstrações públicas maciças contra o presidente e, enfim, a crise que levou ao seu impeachment mostraram que as relações entre as duas esferas aparentemente opostas de ação – tempo e espaço – tinham se tornado mais complexas, mais sutis. Assim, de um lado as demonstrações públicas tiveram um papel fundamental para a votação do impeachment e o afastamento do presidente, a própria televisão e até mesmo a sua ficção não estiveram inteiramente ausentes das ruas inspirando, de certo modo, esse retorno ao espaço público. É este ponto que passamos a abordar agora.
O impeachment
O episódio do impeachment permite que o foco seja dirigido mais diretamente os mecanismos de funcionamento da TV. Como se sabe, a crise foi desencadeada pela ação direta dos mídia. Como, no Brasil, os canais de TV dependem das concessões governamentais, as estações de TV guardam, tradicionalmente, muita reserva em relação aos temas ligados diretamente ao sistema de poder. No episódio do impeachment, mais uma vez eles permaneceram fora de cena, pelo menos no início, sendo precedidos pela imprensa escrita.
Dois episódios deram origem à crise de 1992: a entrevista de Pedro Collor, irmão do presidente, à revista Veja, e a de Eriberto Batista, o chofer da secretária particular de Collor, à revista Isto é, ambas acusando o presidente de corrupção. A substituição da TV pela imprensa escrita – e logo pelo mais lento de seus veículos – a revista semanal – no comando dos acontecimentos parece ser significante do ponto de vista que nos interessa aqui. Se Collor foi eleito com a ajuda da televisão, m veículo fundado na velocidade do tempo (o símbolo de sua campanha na televisão era justamente uma animação: uma locomotiva em alta velocidade), parece que uma espécie de redução, de uma desaceleração foi necessária para “desgastar” a sua imagem – como se só uma redução da velocidade pudesse dar cabo dessa “construção”, desconstruindo a imagem. De par com tal operação, o abandono do tempo, do tempo da televisão – está não teve a dianteira no desencadear da crise – era posto em relação imediata com um retorno ao espaço, com a volta da população às ruas e à praça pública por meio de manifestações que, nas principais cidades do país, exigiam a saída do Presidente.[14]
[14] O telejornal do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), de Bóris Casoy e o programa de Jô Soares, no mesmo canal, deram boa cobertura à crise, mas tanto entusiasmo não parece alheio à competição então acirrada do SBT com a TV Globo, a grande “perdedora” nesse processo de desmoralização pública do seu candidato.


Também os desdobramentos dessas duas entrevistas, ao se manifestar de forma imprevisível, assumiram um modelo muito familiar aos mídia, habituada a trabalhar tendo a imprevisibilidade como seu pressuposto de base. Assim, a partir do momento em que Pedro Collor e o chofer Eriberto irromperam no cenário político, outras personagens, saídas de atividades e meios sociais variados, passaram a fazer o mesmo, entrando também em cena e multiplicando as acusações de corrupção contra o presidente. Como esses gestos não tinham sua origem no mundo da política – ou melhor, dos políticos – ninguém podia prever de onde viria o próximo golpe. Se, por um lado, os próprios políticos e os seus partidos eram surpreendidos por esses acontecimentos inesperados e passaram a viver momentos de perplexidade, por outro, jornalistas, jornais e os mídia em geral, habituados por profissão ao inesperado, se sentiram imediatamente à vontade nessa atmosfera de revelações, lidando com acontecimentos que pareciam estar sendo produzidos especialmente para eles.
Mesmo se esta nova configuração da expressão política implicou num certo recuo da televisão, que deixava de ocupar seu lugar de topo, seu papel foi ainda importante na determinação da natureza da crise. Se por um lado ela contribuiu ainda para “moldar” os acontecimentos que lhe deram origem, por outro ela colaborou também para definir o modo como esses deveriam ser percebidos pelo público. De certo modo, a televisão ainda serviu, pelo menos como “inspiração”, para levar as pessoas para as ruas.
Expliquemos melhor. Para focalizar o primeiro desses pontos: como a televisão ajudou a “enformar” os acontecimentos, devemos lembrar que o impacto das duas entrevistas deve ser examinado no contexto do que Jurandir Freire chamou de “ordem cultural da confissão” – ou seja, do prestígio crescente, ou do predomínio mesmo, nos diferentes veículos de comunicação (por meio de revistas, de talk shows da TV e outros programas), e no cinema (por meio da ficção) da “confissão pública” da intimidade. Uma ordem que diz respeito não só aos indivíduos reais, mas também aos próprios personagens da ficção e diante da qual a distinção entre público e privado passa a se tornar inoperante.
O caso Collor fornece uma excelente oportunidade para se examinar uma das modalidades de uso político da exposição da vida privada em público e para analisar as consequências reais que ela acarreta.
A televisão brasileira desenvolveu um extraordinário e incomparável instrumento para tornar a vida privada pública: as telenovelas. Dos anos 60 em diante, o público brasileiro tem sido testemunha dos detalhes mais íntimos da vida de centenas de personagens ficcionais, cujo impacto na mente e nos afetos é forte o suficientemente para embaralhar os limites entre os fatos e a ficção. Essa super-exposição da intimidade, essa espécie de “mexerico global” que chegou a atrair 70% da audiência nacional não é, no entanto, um jogo “inocente” – como poderia parecer à primeira vista. O caso de Jandaíra, a cidade que mudou de nome por causa do sucesso de uma telenovela ali encenada, é um dos exemplos mais acabados dessa confusão entre realidade e ficção, e pode ser relacionado com um outro ainda: o anúncio da morte de Odete Roitman, personagem de uma telenovela, no Jornal Nacional da Rede Globo (muito significativamente, a novela se chamava Vale tudo), ao lado das notícias “reais” – entre elas, o assassinato do líder Chico Mendes.
A tônica habitualmente colocada na habilidade da televisão em usar a manipulação direta – como a Globo quis fazer após o debate do segundo turno das eleições – tende a obscurecer o elo sutil entre a esfera do entretenimento propriamente dito e a esfera política, e às vezes dificulta o exame do alcance político-cultural da televisão. Uma das grandes descobertas da campanha Collor foi ligada justamente a esse aspecto digamos “promíscuo” da televisão: a obliteração dos limites entre fatos e ficção, o tratamento da “vida real” como ficção, extraindo daí proveitos similares aos que as telenovelas já tinham consagrado. Em vez de se ater apenas à manipulação diretamente política – essa velha conhecida dos políticos e de seus eleitores – Collor entendeu que a experiência do público das telenovelas poderia ser posta a seu proveito, que a ficção também poderia “trabalhar” em seu favor. Assim, um de seus golpes publicitários mais certeiros, foi dado justamente alguns meses após o encerramento da novela Vale tudo: o telespectador foi contemplado, num dos últimos programas eleitorais do primeiro turno, com uma cena típica de telenovela – a narração de detalhes íntimos da vida de Lula, através do depoimento escabroso da sua ex-noiva. A estratégia de Collor era transparente:
se as vidas de personagens ficcionais podiam ser transformadas em verdadeiros acontecimentos através das telenovelas, a intimidade de pessoas reais também poderia ser transformada em scritp de telenovela e ser exposta com efeitos políticos reais e consistentes.
Na verdade, foram três os episódios midiáticos de monta que precederam imediatamente a eleição e contribuíram para constituir um “clima” que, na perspectiva de Collor, lhe seria favorável : além do caso Miriam Cordeiro (a ex-noiva) e da manipulação do debate entre os dois candidatos, editado de modo enviesado pela Globo, também o sequestro do empresário Abílio Diniz marcou profundamente a véspera da eleição. Nesse último episódio, as negociações para a libertação do empresário, transmitidas ao vivo pela televisão, tomaram as telas do eleitor paulistano, ocupando o tempo de algumas estações no sábado e no domingo – libertados minutos antes do fechamento das urnas, os sequestradores foram apresentados à imprensa vestindo a camisa do PT.
Se nos concentramos principalmente na revelação da vida íntima de Lula é porque, além de escabroso, esse tipo de “ação” – ou de golpe – inspirada na televisão acabaria ultrapassando o mero alcance da campanha, para ser retomado como um projeto mais duradouro e de muito maior alcance, de “politização” da própria vida privada do presidente eleito. Após sua posse, Collor passou a tirar partido desse tipo de exposição, pondo a proveito vários acontecimentos de sua vida particular ao trazê-los para a cena pública. Quando o privado emergiu dessa forma no público, quando ambas as esferas passaram a ser confundidas, foi transposto um patamar na vida política do país, em relação ao qual as consequências nem sempre beneficiariam o Presidente. Examinemos mais de perto esse ponto.
Não foi por acaso que a crise que levou ao impeachment foi desencadeada pela própria família do Presidente – isto é, justamente na esfera privada. O impacto da entrevista do irmão de Collor e do chofer de sua secretária particular deve ser considerado no contexto dessa “politização” da vida familiar, cujas raízes mais remotas remontam à televisão, às telenovelas – com seus conflitos de sangue e de honra, seus golpes sujos e traições – uma estratégia que o Presidente vinha exercitando de longa data com muito sucesso. Agora os fatos estavam se voltando contra ele e opunham, exatamente como num script de telenovela, dois portadores do mesmo sangue num combate mortal. Foi, assim, no registro de uma telenovela, que o público pôde apreciar essa história a se prolongar em verdadeiros “capítulos”, dia após dia, no alto das manchetes, num intrincado enredo cujas consequências não podiam mais ser controladas.[15]
[15] Talvez seja bom lembrar que a revista Veja, que publicou a famosa entrevista e deu a partida do escândalo é um importante veículo nacional cujo público, de classe média, coincide com aquele que assegurou, por muitos anos, o enorme sucesso das telenovelas.
O impacto das revelações originadas no âmbito familiar ou doméstico do Presidente provocou forte abalo político, ultrapassando o alcance de uma novela de verdade (mas, justamente, como medir o alcance de uma telenovela senão assim transpondo-o para um plano “outro”, aparentemente alheio ao seu suposto âmbito de influência?). Muito mais eficazes que as acusações de corrupção já feitas ao governo de longa data pela oposição, elas foram no entanto acolhidas com certas nuances pelo sistema midiático.
A cobertura que a imprensa escrita deu aos desdobramentos das duas entrevistas e aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito logo criada foi, de início, muito mais viva que a da televisão. Mas a pressão mais imponente para a saída do Presidente veio mesmo das manifestações públicas – apesar da divulgação dos resultados graduais da CPI terem também desempenhado papel importante na conclusão da crise política. Centenas de milhares de pessoas reuniram-se nas praças públicas das principais cidades do país, protestando contra a corrupção e pedindo o impeachment do presidente, numa reconquista do espaço público para a expressão política que pode ser contraposta, pelo menos de início, ao recuo da televisão da cena política (essa observação agora vale para a TV Globo, sem dúvida a última a dar conta desses acontecimentos em seus telejornais). Mas, até mesmo nessa vivificação do espaço público, as imagens ainda teriam um papel – mesmo que indireto – a desempenhar.
A presença, ou o papel da televisão nas manifestações é bastante sutil e passa, em primeiro lugar, pela familiaridade que os participantes revelaram com a sua linguagem. A multidão reunida nas ruas para exprimir seu protesto mostrou grande familiaridade com o mundo das imagens e com o manuseio de diferentes signos: slogans, canções, imagens e cores foram logo transformados em mensagens políticas que deveriam comunicar imediatamente. A partir daquele momento, tudo passou a “significar”: roupas, objetos ordinários, os próprios corpos foram integrados numa espécie de gigantesco “sistema de linguagem” cuja finalidade era deixar a significação “fluir” como que “naturalmente”. Comparada com as manifestações pelas Diretas quando, pela primeira vez, uma cor – o amarelo – recebeu sentido político, ou mesmo com as manifestações contra a ditadura dos anos 60 e 70, estas eram muito mais vivas, coloridas (com o devido perdão da palavra), buscando uma linguagem própria que fosse partilhada de imediato por todos.
O maior exemplo dessa riqueza de signos e dessa construção de uma linguagem foi dado naquele que ficou conhecido como “o dia do luto”, quando, em busca do apoio político das massas o Presidente pediu ao público pra sair às ruas vestido de verde e amarelo. Transmitido no jornal da noite pela televisão, esse apelo marcou a virada mais importante da crise, encaminhando-a para o desenlace. Era a primeira vez – é importante sublinhar – que a televisão não era usada pelo Presidente, como de seu hábito, para manter o espectador em casa, preso ao seu aparelho, mas para incitá-lo a descer às ruas e a manifestar-se politicamente. Mas o efeito da conclamação foi oposto ao desejado. No domingo seguinte, como se sabe, espontaneamente a multidão encheu as ruas com suas bandeiras negras, vestida também de preto, gritando slogans contra o Presidente.
Os cara-pintadas, como foram denominados os jovens que se reuniram às manifestações desde o início, demonstraram grande liberdade para lidar com a linguagem, transformando seus próprios corpos em signos. Não apenas seus rostos foram pintados, mas seus braços e pernas, torsos, seus corpos sendo transformados numa tela onde mensagens e slogans vieram se inscrever, cores a expressar opinião. Uma tal liberdade com os objetos do dia-a-dia e um tal grau de desvio das suas funções, uma tal politização do cotidiano e um tão fácil manuseio de signos tem muito a dever – sem dúvida – à linguagem da televisão e da publicidade.
Se, no cenário político, a luta pelo impeachment assumiu a forma usual por meio do confronto entre diferentes partidos e forças, no nível da expressão das pessoas comuns ela foi traduzida por uma intensa produção de diferentes tipos de mensagens, espalhadas pelas cidades como uma espécie de resposta das ruas ao que a televisão estivera mostrando nos últimos meses. Com efeito, durante o exercício do Presidente Collor, uma enchente de imagens tinha invadido todo o país: após as eleições, o “caçador de marajás”, já obsoleto, fora substituído por figuras mais “dinâmicas” que sublinhavam os feitos atléticos de um presidente comprometido com a ação e amigo de Jet-skis, futebol, tênis, motos e supersônicos. Após as revelações da CPI, a profusão de signos que irrompeu nas praças públicas constituiu um imenso suprimento de respostas que parecia opor-se às mensagens que as telas da televisão tinham insistido em mostrar durante tantos meses. Era como uma insurgência das ruas que parecia implicar, se nos lembrarmos de Paul Virilio, uma “recuperação” do espaço público e um deslocamento da expressão política, que ficara tanto tempo confinada às telas da televisão.
O segundo aspecto do papel desempenhado pela televisão durante a crise está mais vinculado ao conteúdo da mensagem veiculada pelos cara-pintadas, em relação ao qual ela ainda pode ser considerada como inspiradora. Pois, curiosamente, apesar de manifestamente político, ele buscava ainda referência num contexto aparentemente distante do universo das práticas políticas.
Os cara-pintadas tiveram, como se sabe, papel fundamental no desenrolar da crise política. No Rio e em São Paulo eles desencadearam as primeiras manifestações públicas importantes em favor do impeachment , as primeiras a serem notadas – justamente – pela televisão. A atividade política dos estudantes não era uma novidade no Brasil já que, desde o golpe de 64, eles foram uma das correntes mais importantes de luta contra a ditadura militar. Nos anos 60, os estudantes conduziram gigantescas manifestações no Rio e em São Paulo e até os anos 70, eles constituíram uma das mais consistentes forças política do país – até que o fortalecimento dos partidos políticos, após a abertura, levou à sua retirada do cenário político dos anos 80 em diante.
A geração nascida durante a abertura, à qual pertenciam os cara-pintadas, era supostamente ignorante em termos políticos. Por causa de sua super-exposição à televisão, os jovens nascidos após o estabelecimento da rede nacional de TV sempre foram chamados de “geração televisão”. Ora, algumas semanas antes da eclosão da crise que afastou o Presidente Collor, a TV Globo tinha dado início a uma novela sobre os anos 70 no Brasil, tendo no seu foco justamente as atividades políticas dos jovens e sua participação na guerrilha urbana.
Aparentemente, essa rememoração, já inofensiva ao final dos anos 80, apresentava um alto potencial de retorno junto ao público jovem em virtude de apresentar personagens idealistas, envolvidos em muita ação. A sua maneira, esse era um modo da TV Globo incorporar a política recente do país à sua ficção, uma vez que as eleições presidenciais tinham acabado de demonstrar o alto potencial do tema junto aos jovens. “Anos rebeldes” era a novela de mais sucesso da televisão brasileira quando a crise começou, em 1992, e os cara-pintadas foram bastante explícitos sobre o lugar da TV na sua “performance” política: foi a música desta novela que acompanhou por todo o tempo seus protestos públicos.
Num cenário em que a televisão era sempre associada à intimidade com o poder, essa súbita reviravolta – uma telenovela que passa a “atuar” contra aquele que foi chamado justamente de “presidente da televisão” – significaria uma incapacidade da TV Globo em prosseguir com o seu antigo desempenho? Pois enquanto a rede lidava (mal) com os acontecimentos políticos (reais) do momento – ou tentava até mesmo ignorá-los – num outro plano sua ficção estava literalmente levando as pessoas a desafiar esse mesmo poder a que ela sempre servira.
Na verdade, essa aparente “reviravolta” acabaria por descortinar mais uma outra dimensão da atuação da televisão entre nós: a sua grande capacidade de se “adaptar”, ou a sua extrema maleabilidade – o que tem permitido que a TV Globo se mantenha no topo dos acontecimentos mesmo quando estes, pelo menos em princípio, parecem lhe ser adversos.
Na sociedade de mercado, a ação da televisão e de todo o aparelho midiático não se limita, evidentemente, ao campo político propriamente, mas procura abarcar todas as esferas da vida social, buscando ascendência sobre o conjunto da produção e circulação de signos na sociedade. Num país de grande predomínio da televisão, como o Brasil, a TV Globo e suas companheiras não têm centrado sua atuação num campo específico, intervindo na verdade como uma espécie de “operador” capaz de conectar e desconectar seu público, em diferentes momentos e de acordo com diferentes circunstâncias, em diferentes dimensões da experiência.
A televisão brasileira tem contribuído com grande eficácia para “formular” novos padrões de experiência para o seu público, padrões esses muitas vezes ainda em estado embrionário na sociedade, e para os quais a população ainda não detém um código de leitura nem dispõe de uma linguagem capaz de os exprimir. A televisão brasileira – e nesse caso a TV Globo é exemplar – vem cumprindo, dentre outros, o papel de suprir o seu público em linguagem, linguagem que visa recobrir esses campos com os quais ele ainda não se encontra familiarizado. Num país subdesenvolvido e de forte desigualdade social, as transformações implicam muitas vezes uma adaptação traumática, quando não demandam a criação de novos processos de leitura e de interpretação da realidade. Nesse sentido, a televisão tem atuado – como fez nos anos 60 para as massas recém-chegadas à cidade – como provedora de uma “grade” de leitura de novas situações, ou seja, da linguagem necessária para que o público possa lidar com as experiências de um mundo desconhecido e que não para de se transformar.
Naturalmente esse papel requer uma enorme flexibilidade da parte de quem pretende lidar, ao mesmo tempo, com diferentes tipos de mensagem e com constantes transformações culturais. Nesse aspecto, a TV Globo tem reservado pra si o papel da “vanguarda”: se há algum sentido em chamá-la de uma emissora “moderna”, ele está justamente nessa capacidade de sintonizar a emergência da transformação e de lhe dar forma, muitas vezes antes que a própria sociedade seja capaz de reconhecê-la. Não é por acaso que a Globo tem sido louvada por suas chamadas “qualidades técnicas”, que acabaram cunhando uma “estética” própria. Na verdade, sua estética é uma mera consequência da velocidade requerida para “reagir” aos acontecimentos, se os tomarmos não apenas no sentido dos fatos jornalísticos, mas de todas as tendências ou inclinações embrionárias na sociedade: suas imagens têm de ser muito flexíveis para dar lugar a essa espécie de prospecção permanente, para permitir o movimento de uma dimensão da experiência social a outra, mas também para encontrar a linguagem na qual as novas experiências devem ser formuladas.
Os últimos acontecimentos antes da renúncia do Presidente ajudarão a compreender porque essa espécie de movimento fácil da Globo pelas mais variadas dimensões da vida política, social e cultural do país é a razão última da sua força junto ao público e, inclusive, diante dos outros canais.
Não era do interesse da TV Globo mencionar a crise política, nem noticiar os acontecimentos que a desencadearam, ou que a ela se seguiram. Uma semana antes do voto do impeachment , quando já estava claro que Collor não sobreviveria à votação no Congresso, o presidente da Organização, Roberto Marinho “prestava contas” de sua opinião numa entrevista ao jornal americano Washington Post (retomada por outros jornais estrangeiros), admitindo a retirada de seu apoio ao Presidente. Mas, aquilo que parecia o reconhecimento de uma derrota acabaria se tornando, em virtude de uma intervenção do acaso, apenas um recuo estratégico em face de uma nova situação que esse homem de televisão porá imediatamente a seu proveito.
Algumas horas antes da votação, como se sabe, Collor renunciou à Presidência. Este deveria ter sido um grande acontecimento, guardado em segredo até o último minuto. Mas, na noite anterior, um jovem ator da Globo assassinou, na vida real, sua parceira de telenovela. Assim, enquanto a TV Globo passava e repassava o tape da última cena gravada entre os dois atores, apenas alguns segundos eram reservados para noticiar a renúncia do Presidente (em alguns jornais, a notícia foi parar nas páginas internas em benefício do escândalo televisivo). Tão logo era expulso de seu cargo, o ex-presidente (“da televisão”) era expulso da tela e das manchetes, substituído por imagens mais “atraentes”, se assim se pode dizer.
Com certeza não escapa ao leitor a feição novelesca desses fatos, como se tivessem sido “programados” de acordo com um novo e maligno script de telenovela, (se no caso de Odete Roitman, a ficção foi tomada como realidade, agora era a realidade que assumia foros de ficção) – ainda mais que a jovem assassinada era filha de uma autora de telenovela.
Mas, o imediato esquecimento do Presidente, tão logo o seu papel político se esgotou, é um exemplo da capacidade da TV Globo de agir como aquele operador capaz de conectar o público ou de o desconectar em níveis diferentes de experiência. Assim que a imagem do Presidente se via desgastada, o público era imediatamente reconectado ao mundo das telenovelas e, mais ainda, à própria imagem da Rede Globo como origem dos novos signos dominantes. Por meio do assassinato da atriz, a TV Globo não só voltava ao centro dos acontecimentos, mas, por mais escabroso que isso possa parecer, ela era o próprio acontecimento. E, como se não bastasse essa reviravolta propiciada pelo acaso (mas seria mesmo o acaso?), o próprio presidente da Rede se encarregava, por sua vez, de “politizar” o caso, operando uma reconversão fantástica dos fatos para o mesmo terreno onde se encontravam, até há pouco tempo, as emoções de seu público: afinal, não foi esse senhor, sempre discreto e econômico nas suas manifestações, que deu início pessoalmente , naquele momento, a uma campanha pela pena de morte?
***
O rearranjo das forças políticas após a saída de Collor atenuou as arestas, apagou muitos dos contrastes que deram lugar à dinâmica que aqui tentamos invocar. Mas a desvitalização, ou a lenta agonia da vida política brasileira e a pujança do sistema midiático que se seguem nos últimos anos dizem muito a respeito do consenso que compõe o panorama cinzento desse final de milênio. (Não é por acaso que a aguda sátira de um colunista como José Simão da Folha de São Paulo , afiada justamente na observação da televisão brasileira – ele iniciou sua atividade jornalística como crítico de TV – foi nesse período transferida, com grande desenvoltura e muito sucesso para o campo político, obtendo efeito considerável ao mirar seus novos personagens sob a mesma ótica com que focalizava as figuras do mundo do espetáculo). Por isto, é hora de evocarmos novamente o espaço, de descobrir o que dele resta após os deslocamentos tão traumáticos de seu eixo entre a esfera pública e a imagem, e de tanta promiscuidade entre realidade e ficção.
Dois episódios podem nos ajudar nesta volta ao espaço. Ao final dos anos 80 – o mesmo período da campanha eleitoral para a Presidência da República – o jornal Folha de São Paulo mostrou, na sua primeira página, a fotografia de um grupo de moradores de rua que, embaixo do Minhocão, tinha tentado recompor aquilo que deveria ser a “sala” da sua casa: um sofá em frangalhos, algumas cadeiras e, em frente, sobre uma pequena mesa, a carcaça de um aparelho de televisão, que há muito já deixara de funcionar mas que propiciava, aos “telespectadores” sentados diante dele, o reconforto da presença, pelo menos imaginária, da imagem que faltava.
A figura dos sem-teto tem o dom de evocar, ou de tornar presente a íntima associação entre decadência do espaço urbano e do espaço público. A fotografia publicada pelo jornal é, com efeito, um exemplo irônico de “privatização” (?) do espaço público, em consequência da decadência do espaço urbano. Por outro lado, a “sala” construída pelos moradores de rua é também uma clara demonstração do poder de penetração da imagem televisiva. A tal ponto que, em torno da sugestão de sua presença – ou melhor, de sua ausência – se pode recriar, no espaço público, um arremedo de espaço privado: a sala íntima. A imagem – ou melhor, a sua falta – é capaz de aglutinar, em torno de si, até mesmo aqueles que não dispõem de espaço privado (sem-teto), e de lhes dar a ilusão de dispor de uma “intimidade” mesmo num espaço, em princípio, comum a todos – público, portanto. Para essa população desterritorializada, a TV – ou melhor, a imagem – deve compor o cenário que recodifica a economia espacial por meio da reapropriação (privada?) do espaço público.[16]
[16] Afinal, Paul Virilio – o grande estudioso do espaço – não relaciona a decadência do espaço público que ora vivemos com a consagração da imagem “pública”, isto é, a consagração da imagem como “lugar público” ?
Ao final dos anos 90 – década que consagrou o neoliberalismo entre nós – tempo de privatizações, de encolhimento do estado e da valorização do indivíduo – o jornal O Estado de São Paulo mostrou uma nova cena, na qual outros sem-teto, instalados na esquina do viaduto Pedroso com a Rua Maestro Cardim, assistiam à novela Terra Nostra num velho aparelho de TV. Consertado com o dinheiro do grupo e vigiado à noite por turnos, para impedir seu roubo, o cobiçado aparelho funcionava ligado à rede elétrica de uma oficina mecânica, em troca da sua vigilância pelos sem teto; e seus felizes “proprietários”: 12 adultos e 4 crianças, já se faziam chamar de “ricos” por seus companheiros de infortúnio. Na noite da reportagem, a temperatura de São Paulo estava entre 13 e 14 graus e eles abandonaram sua fogueira para se emocionar com a sorte de outros “sem-terra”, os imigrantes italianos cuja história a novela narrava.
Esses personagens, diferentemente dos nossos sem-teto da primeira foto, não se limitam mais à carcaça de TV. Agora eles podem assistir à novela porque, graças ao esforço de cada um, têm uma televisão “de verdade”. Fazendo jus ao ideário de seu tempo eles “assumiram”, enquanto comunidade solidária, a resolução dos problemas de que o Estado se desvencilhou. Como típicos representantes de uma “política de resultados”, não só conseguiram juntar suas economias para comprar o aparelho, mas ainda foram capazes de “negociar” (outra forma de atuação própria do seu tempo) com as comunidades vizinhas (os negociantes).
Como vimos, esses dois episódios cobrem as duas últimas décadas e se articulam em torno da imagem da televisão e do espaço e, na sua irônica configuração, talvez eles estejam atestando a transposição de uma nova etapa na chamada “crise do espaço público”. Rejeitados da cidadania, mas, reivindicando ainda o acesso à imagem, esses indivíduos sem direito ao espaço privado – e para quem, por consequência, o espaço público não faz mais seu sentido –atestam, na sua situação impossível, que a questão do espaço e da imagem se tornam ainda mais complexas no país, à medida em que a política entra em lenta agonia.
Não por acaso, foi fora desse espaço agonizante da cidadania, no espaço propriamente dito, na terra como lugar de sobrevivência, que surgiu o maior movimento de reivindicação da terra de que temos notícia no país, o MST – articulado como um conjunto de lutas sem qualquer relação com a atividade política tradicional e sem nenhum projeto de poder. Não por acaso, igualmente, a mídia tem sido incansável no combate a esses despossuídos, insistindo em devolvê-los ao mundo “arcaico”, “sem tecnologia” e “sem imagem” – enfim, a um mundo fora do tempo – enquanto a política no sentido tradicional não consegue lidar com eles. É que o fato de que esse movimento exista, por si só, já abala muitas das categorias por meio das quais aprendemos a pensar o Estado, os partidos políticos, os sindicatos e todo o sistema de representação dito democrático – a política, enfim, no seu exercício tradicional – que tem por coroamento, justamente, o sistema midiático.
***
Trabalho desenvolvido a partir de uma palestra oferecida no quadro do seminário “Contemporary Brazil” no Saint Anthony´s College, Oxford, 1993. Uma primeira versão foi publicada na revista Cruzeiro Semiótico, n. 18-19, jan-jul. 1993 Porto. A segunda versão foi publicada no livro O Brasil não é mais aquele – Mudanças sociais após a redemocratização. D´Incao, M.A. ORG. Editora Cortez, São Paulo, 2001.